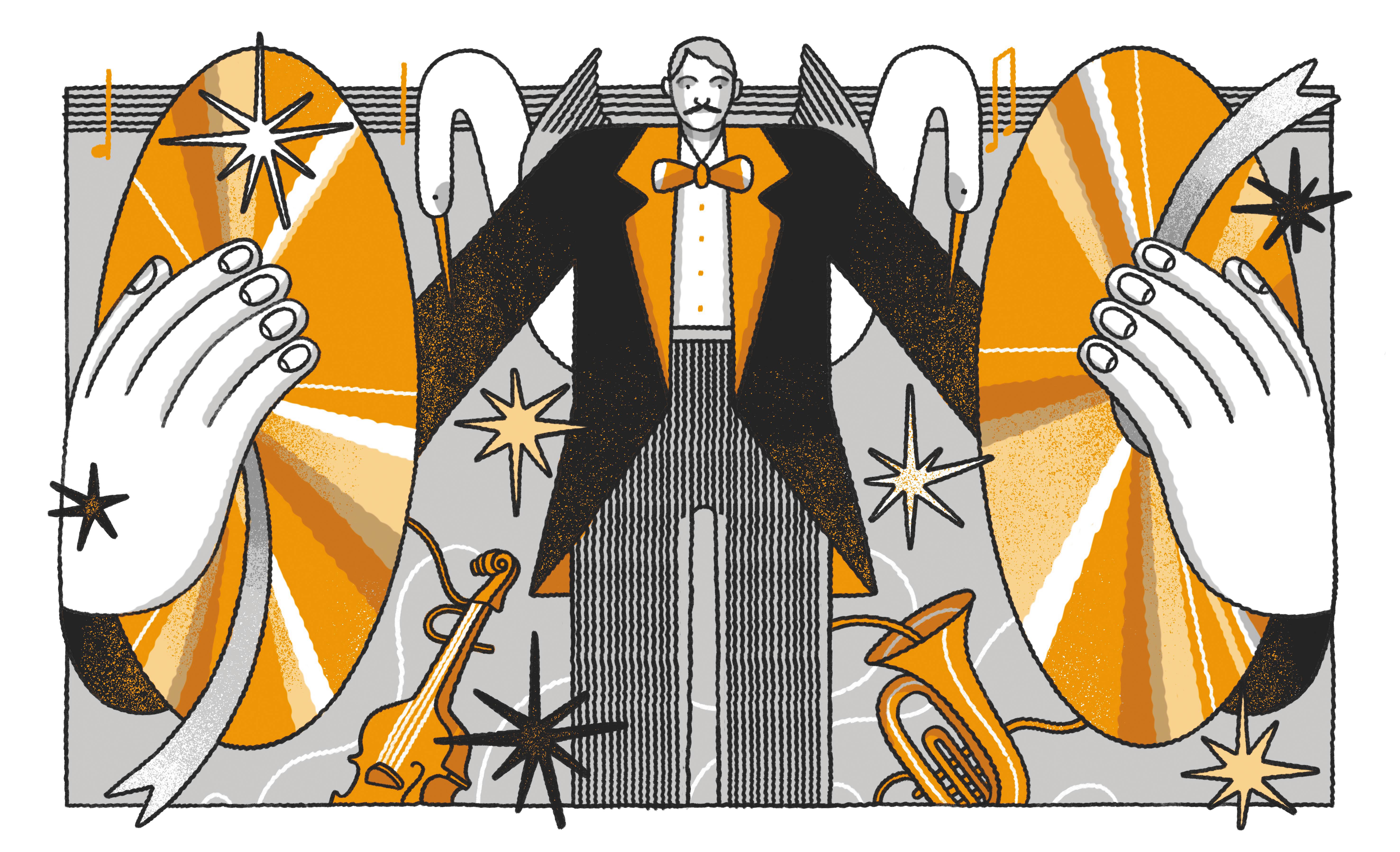
Na condição de cronista do cotidiano, me sinto na obrigação de adorar personagens. Me imagino entrando e saindo de casas e prédios, batendo a esmo nas portas e perguntando ao primeiro incauto que aparece o que ele tem a oferecer ao mundo. Personagens deste tipo de crônica geralmente são cheios de bons sentimentos, sonhos e realizações, sem falar na infância sofrida, aquela pontinha amarga de nostalgia e um quê de soberba ao fundo. Sabe como é. Pensando nisso, recorro à minha velha agenda telefônica (toda rabiscada e amarelada e com orelhas-de-burro nas pontas) para encontrar alguém que engrandeça esta crônica.
Ali no comecinho da agenda encontro o nome de Alcino Gotijo, dedicado a mudar o mundo por meio da literatura de cordel com temas riograndenses – na verdade um chato de galochas que não sabe usar vírgula ou crase, mas que, com sua vozinha fina e o cavanhaque ralo, exala uma virtude capaz de emocionar os mais distraídos. Duas ou três folhas adiante me deparo com o nome do finado Eduardo Lombro, que dizia ser capaz de conquistar qualquer mulher usando sinônimos. “Eu não chamo de ‘mar’; chamo de ‘oceano’”, disse ele certa vez a uma moça meio distraída que cinco minutos mais tarde estava toda entregue aos encantos do Don Houaiss.
Vasculho e vasculho a agenda gasta, passando por defuntos e fantasmas, de ex-amigos que hoje trabalham no Cirque de Soleil a uma ex-namorada que virou militante feminista, sem falar em Leopoldo van Humbolt, ex-metaleiro de cabelos lisos até a cintura e fã de Jack London que virou arquiteto de interiores, e no velho Renó Barba, advogado de celebridades cujo sonho (realizado) era se isolar na remotíssima Tristão da Cunha.
Folheando aquela agenda cheia de pessoas que um dia passaram pela minha vida e parando aqui e ali para recuperar lembranças, eis que encontro com um nome escrito em azul e rabiscado em vermelho, numa tentativa ineficiente, patética e raivosa de aniquilar aquele registro já aniquilado da minha memória. Sei lá eu quem é Daniel Polati ou Paloti ou coisa assim! Mas como o número do telefone tinha sido poupado da minha inexplicável fúria e como não tenho mais o que fazer da vida (e como tenho que entregar este texto até amanhã), resolvo ligar.
Do outro lado da linha descubro ele, o personagem desta crônica, à qual darei o título de “Os bemóis e sustenidos de Daniel Paloti”, mesmo sem saber se isso faz sentido. Mas soa bem, até porque Daniel Polati foi ninguém mais ninguém menos do que o mais longevo tocador de pratos oficial da Orquestra Sinfônica “B” do Paraná, com passagens pela Orquestra Sinfônica de Orlando, Orquestra Sinfônica de Nauru e Orquestra Sinfônica de Szczekociny – para o terror de seus biógrafos.
Por que eu e ele brigamos, se é que brigamos, é um mistério. Dois dias depois do primeiro contato telefônico, Polati me recebe em sua mansão no Jardim Social. A sala é toda decorada com os pratos que o tornaram famoso, sobretudo nas passagens mais exaltadas das grandes obras de Tchaikovsky, a especialidade dele. Ao me receber trajando um roupão de oncinha e segurando uma taça de espumante (Polati abandonou as cigarrilhas há uma década), ele vai contando as histórias de cada um dos instrumentos – histórias que eu não anoto porque, sinceramente, não interessam a ninguém.
“É importante você enfatizar a seus leitores que sou um pratista, e nunca um bumboísta ou ainda um...”. Daniel se levanta do sofá muito branco e sai em disparada até um lavabo próximo, onde o escuto esvaziando o conteúdo do estômago. Ele volta pedindo desculpas, respira fundo e conclui a frase como se nada tivesse acontecido: “...percussionista”. Peço que ele me explique o porquê dessa rixa e ele fica todo nervosinho: “O público ignaro não tem ideia das sutilezas do prato em comparação com o bumbo. Há toda uma técnica muito, muito, muito delicada envolvida no processo. Bater bumbo é algo que qualquer ser primitivo consegue. Por outro lado, um prato bem batido leva o ouvinte ao Paraíso do metal contra metal, cria uma unidade histórico-espiritual entre matéria e tempo, exalta...”
E isso e aquilo.
Peço, então, que Polati me fale um pouco sobre sua carreira, suas andanças pelo mundo, as noites de gala em que vestiu smoking, subiu ao palco e pratejou como ninguém, para o delírio dos ouvintes muito compenetrados e eruditos. “Já nasci gostando de bater pratos”, começa ele, uma lágrima pontual escorrendo pelo rosto. “Mas eu era muito pobre e, lá no Boqueirão, onde me criei, não tínhamos condições de sair por aí batendo pratos, entende? Eu tinha de me contentar em bater tampas de panelas. Por sorte, a minha mãe era uma pessoa muito sensível e, ao perceber meu talento, me botou no olho da rua e me mandou bater panelas no sinaleiro. Foi assim que comecei a aperfeiçoar minha técnica. E foi ali, na esquina das ruas Salvador Ferrante e Oliveira Viana, que um olheiro me viu. Eu tinha apenas sete anos”, conta.
A partir daí, os dias de penúria ficaram para trás. Contratado como pratista-mirim pela Orquestra Sinfônica Neopitagórica de Curitiba, uma instituição centenária conhecida pelos altos salários que pagavam aos musicistas e que faliu depois que Collor confiscou os recursos da poupança, Polati pôde praticar sua arte durante 10 horas por dia. Incansável, ele aprendeu teoria musical e aperfeiçoou sua técnica para, aos 14 anos, ser o pratista mais jovem a ocupar o disputadíssimo posto nos fundos da Orquestra Sinfônica “B” do Paraná. “Com o dinheiro que ganhei, pude comprar uma casinha para a minha mãe e uma garrafa de uísque 21 anos para o meu pai. Aliás, esqueci de dizer, mas meu pai nunca me aceitou como pratista. ‘Filho meu toca violino, não prato!’, dizia ele, coitado”.
Paloti parecia destinado ao estrelato. Mas só parecia. Aos 21 anos, durante a execução da desconhecida Die Fliegen sind alle verrückt, de Mahler, Polati sofreu uma torção no pulso que o incapacitou por cinco semanas, obrigando-o a deixar os pratos de lado e a ganhar a vida tocando os odiados bumbos. “Pensei em desistir. Ter de segurar aquelas baquetas vulgares e tocar aquele instrumento indigno... Ninguém merece isso”, diz. Diante da adversidade, Polati fez o que ninguém esperava dele: se superou. Isto é, tocou bumbo como ninguém, para o delírio da plateia e o desespero do maestro, sobrepondo-se aos violinos histéricos e aos cellos soturnos, fazendo calar os metais de sopro e abafando o dedilhar furioso do pianista. “Foi um escândalo. Mas eu mostrei quem manda na bagaça toda”, regozija-se Polati, sorrindo e exibindo o canino de ouro, uma extravagância do tempo em que ficou conhecido como “Aquele Maluco que Bate Prato”.
Foi nessa época, aliás, que Polati conheceu o único e verdadeiro amor de sua vida, Sílvia. “Ela estava aqui até agorinha mesmo. Deve ter saído para fazer compras. Mas pode escrever aí que ela é o único e verdadeiro amor da minha vida. Dou fé e atesto”. Quando, porém, pergunto qual a importância de Sílvia para a sua vida e carreira, ele desconversa. Estranho, mas não insisto. Hora de falar sobre as preocupações sociais de Polati – porque todo personagem digno de crônica tem que estar atento às questões sociais, não é mesmo?
“Então. Montei uma escolinha para ensinar a arte do prato a meninos carentes. Mas não apareceu ninguém. Uma tristeza a cultura nesse país, blá, blá, blá. Daí me ofereci para trabalhar como voluntário num hospital pediátrico. Mas logo no primeiro dia, ou melhor, na primeira hora, ou melhor nos primeiros cinco minutos uma junta de médicos e seguranças do hospital me cercou, dizendo que aquele tipo de música prejudicava os pacientes. Médico não entende nada de arte mesmo”, reclamou. Depois disso, Polati desistiu de investir no social e passou a adotar uma filosofia mais individualista. “Pago meus impostos e isso basta”.
A entrevista caminha para seu fim melancólico quando resolvo dar aquele toque de humanismo à história e, assim, me mostrar como cronista sensível que sou: tiro Paloti de casa e o faço andar pelo bairro, a fim de que ele saboreie os louros de seu talento. Ele hesita, afetando aquela falsa modéstia típica dos gênios, mas depois vai até uma parede e pega dois dos mais reluzentes pratos (“Ganhei esses da rainha da Inglaterra, acredita?”). A ideia era dar uma volta na quadra para que ele fosse aplaudido pelos pedestres que àquela hora saíam para passear com os cachorrinhos segurando a indefectível sacolinha de cocô numa das mãos e a coleira noutra, mas Polati tem uma ideia melhor: tocar no sinaleiro e, assim, reviver aqueles tempos de penúria.
(Pena que o fotógrafo do jornal não estava ali para aquele clique perfeito e emocionante e redentor).
Dez minutos mais tarde, nos despedimos ali na rua mesmo. Polati R$5 reais mais rico, eu com uma bela história para contar. Restava saber como o nome dele foi aparecer na minha agenda e por que eu o rabiscara com tanta raiva. “Você não lembra mesmo?”, me pergunta Polati. Peço desculpas e explico que, ao longo dos últimos 30 anos, muita gente passou pela minha vida, todo mundo é importante, claro, mas sou um ser humano falho, estou ficando velho, aquela coisa toda.
Ao que ele reage com um silêncio assustador (e constrangedor), para então responder num sussurro: “Sílvia”.




