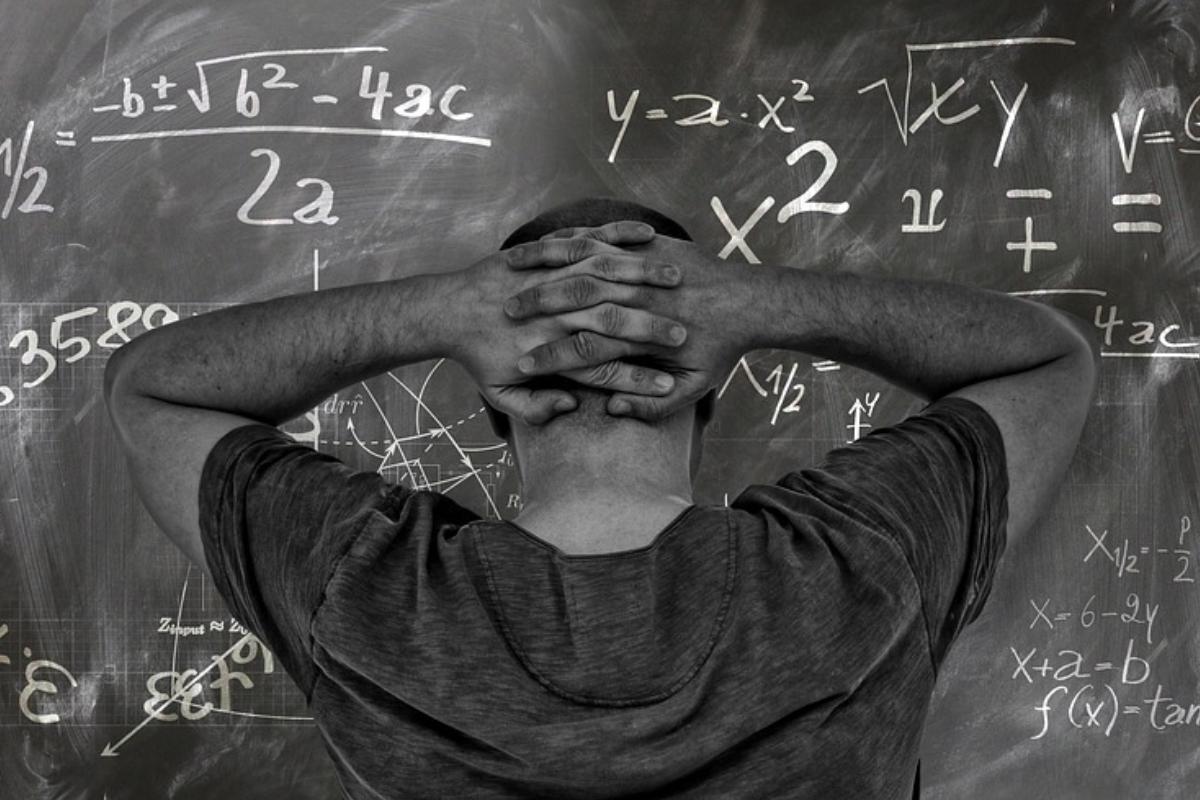
O enorme contingente de alunos abaixo do nível aceitável, acompanhado de preocupantes índices de analfabetos absolutos e funcionais no Brasil, na verdade, não são culpa (apenas) da má qualidade de formação que algumas universidades oferecem aos futuros professores ou de escolas com péssima gestão. “O buraco é bem mais embaixo”, lamenta João Batista Araujo e Oliveira, Ph.D. em Pesquisa Educacional pela Universidade do Estado da Flórida (1973) e presidente do Instituto Alfa e Beto. A organização realizou uma pesquisa, publicada em 2016, em que mostrou o perfil de grande parte dos alunos dos cursos de Pedagogia no Brasil, sendo que a maioria desses estudantes obteve notas no Enem menores que a da média nacional.
Leia também: O que fazem os países que têm bons professores
Em seu ponto de vista, o problema central do sistema educacional está na forma de recrutamento para quem quer se tornar docente. À Gazeta do Povo, Araújo defende que é necessário “selecionar pessoas de mais talento e bagagem intelectual para a carreira de professor”, mas salienta que, para mudar o quadro, “o Brasil tem que fazer uma tarefa de 30 anos - que não começou ainda”.
O professor também comenta sobre reforma no ensino médio, o movimento Escola sem Partido e as primeiras ações do novo governo. Confira na entrevista:
O que o senhor acha que é preciso fazer para melhorar o ensino fundamental e médio públicos do país, que, segundo o último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), progrediram um pouco no ensino fundamental?
Primeiro, o diagnóstico: vamos dar um passo atrás. Essa média reflete que tem, sim, havido alguns avanços. Mas, quando você olha os números, metade dos alunos está em um nível muito baixo. Há um contingente enorme que está abaixo do nível aceitável. Além disso, muitos dos ganhos que houve nas séries iniciais nos últimos anos não se devem a melhorias diretas no ensino. Foram melhorias socioeconômicas em campos como moradia, escolaridade da mãe, universalização da educação infantil.
Dito isto – esse é o diagnóstico –, o problema central é a qualidade. O segundo problema grande é a deficiência de como usar melhor os recursos para fazer algo de melhor qualidade.
Leia também: Se é muito fácil ser professor, a profissão é desvalorizada
E, por trás disso, há um problema de professor. O problema central do sistema é o professor. Temos que mudar o perfil de recrutamento, recrutar gente com mais talento, bagagem intelectual e melhor formação [no ensino médio] para ser professor. Nas últimas décadas, se abriu demais [a carreira de professor] para gente que não tem o mínimo de preparo compatível com as exigências para a ocupação do cargo. Há um contingente enorme que, na sua grande maioria, vem dos piores alunos do ensino médio.
As estratégias que vêm sendo usadas também parecem inadequadas. Prova disso é que não tem havido grandes ganhos de qualidade e, para esse tipo de professor que nós temos, eventualmente, outros tipos de pedagogia e de intervenção são mais eficazes do que os que vêm sendo usados. Não adianta ficar tentando capacitar essas pessoas cuja base é muito pequena. O buraco é bem mais embaixo, o problema central do sistema de ensino é o professor. O que o Brasil tem que fazer é uma tarefa de 30 anos – e não começou ainda.
A reforma do ensino médio e a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) também podem ajudar a melhorar a qualidade nessa etapa do ensino?
A formação está na direção correta e sinaliza para que um conjunto de alunos vá para a área acadêmica e outro para a ala profissionalizante. Nesse sentido, é correta. O que me parece inadequado é que, do lado acadêmico, a divisão que fazem das áreas de conhecimento não corresponde à realidade, é muito generalista. Isso não ajuda a enxugar matérias e não ajuda o aluno a se concentrar em três ou quatro que ele quer ser bom. Ainda há coisas para serem aprimoradas, mas estamos na direção correta.
E tem o currículo, que era ditado pelos livros didáticos e, de certa forma, balizado pela avaliação. Mas eram referências pouco diretas, digamos assim. Agora, pelo menos, começamos a ter o primeiro marco de referência que pode ajudar a lidar com outras questões. Ainda é [a atual BNCC] uma coisa frágil, malfeita, às pressas, não tem os devidos cuidados. Mas, pelo menos, é um avanço na direção correta.
Sobre o debate dos ‘métodos de alfabetização’, o senhor acha que há mesmo um único modelo ideal para alfabetizar os alunos?
A alfabetização não é diferente do resto do ensino, as razões pelas quais ela não funciona não é muito diferente das outras, o ensino da língua portuguesa, redação, ensino da matemática, ciências e etc. É um problema de professor, de gestão escolar, problema de ineficiência que reflete em tudo. Se você não tem um currículo adequado de alfabetização, não tem uma clareza conceitual e etc.
O que é complicado na área de alfabetização é que aí tem um terreno ideológico minado. Tanto na área de alfabetização de adultos, do método de Paulo Freire, quanto na área de alfabetização de crianças onde a discussão é mais sobre a questão de métodos.
Mas não adianta falar que método vai resolver, porque, se não tiver outras coisas, também não vai resolver. Essa é a área que mais pesquisou educação nos últimos 50 anos, e que há pesquisas rigorosas, e os seus encargos são absurdamente evidentes. E a ciência comprova que os métodos mais eficazes para alfabetizar são os métodos que se baseiam no sistema fônico, que é o de ensinar o aluno de uma maneira sistemática fazendo essa relação entre os fonemas e os grafemas da língua de acordo com sua ordem ortográfica. Isso se aplica em todos os países de língua alfabética no mundo, a maioria dos países ocidentais, da Europa, da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Todos eles, há mais de 30 anos, já resolveram essas questões e todos eles adotam métodos fônicos. Há algumas diferenças entre eles, mas o princípio geral é isso.
Método de alfabetização faz diferença, é importante, mas não é só essa questão que vai resolver. É preciso cuidar do currículo, de material didático, professor e, claro, usar métodos adequados.
Como o senhor vê a iniciativa do projeto de lei Escola Sem Partido?
Eu acho que a escola tem que educar as pessoas ao exercício crítico. O que o estudante vai pensar, a escola não tem que modelar. A escola, filosoficamente, é sem partido, sem religião, ela é sem um ‘punhado’ de coisas. Ela trabalha – dentro dos valores de determinada cultura – a formação, sobretudo do intelectual da pessoa, para poder usar a inteligência e o conhecimento e pensar por conta própria.
Isso é que é a função da escola. A ideia de você querer controlar isso no varejo não me parece nem uma ideia prioritária nem uma ideia viável. Eu acho que tem outras questões, hoje, na pauta, que são muito mais importantes do que essa. Mas ainda que fosse tão importante, eu acho que você não lida com essas questões por lei, por decreto.
O último balanço da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) revela que o Brasil não oferece a formação técnica – como os cursos do Pronatec – que o mercado de trabalho precisa e consegue abarcar. Como o senhor avalia esse cenário?
Uma coisa é ter uma formação técnica do jeito que deve ser. Ou você faz uma aprendizagem no Senai, uma escola técnica de nível médio, um curso tecnólogo superior. Esse é o regular. O ensino médio técnico ainda é muito pequeno e essa reforma ainda não está boa para poder expandi-lo. Na maioria dos países da OCDE, entre 30% e 60% dos alunos fazem a vertente técnica do ensino médio. Esse é o lugar correto de você preparar a mão de obra.
Além do conteúdo para a formação – mexer com fio, com parafuso, computador – o ambiente da escola técnica é muito importante na formação da cabeça do técnico. A convivência com o mundo real, da produção, é fundamental. E, no Brasil, as escolas técnicas mais importantes são acadêmicas, elas não preparam ninguém para o mercado de trabalho. Há esse senso de que ‘fora da universidade não tem salvação’ – um preconceito muito grande.
No nosso país há um contingente gigantesco de gente que está no setor produtivo ou que está fora dele, desempregado, de baixa escolaridade e que, então, se usam mecanismos como o Pronatec e outros para tentar qualificá-lo para o mercado de trabalho. O grande problema é que, primeiro, formação não cria emprego, quem cria emprego é a economia. Não adianta você formar mil cabeleireiros se não tem ninguém para cortar o cabelo, ou formar mecânicos se a indústria mecânica está parada.
Outro ponto é que são formações quase sempre muito curtas, acaba criando um pacote em que a quantidade é maior que a qualidade, apropriada a grandes redes que ganham as licitações para prover e, no fim, é um faz de contas.
Todas as avaliações que eu vi do Pronatec são extremamente negativas. Há mais de 40, 50 anos que se faz esse tipo de coisa, muitos políticos adoram fazer isso, porque cria uma ilusão de esperança, um movimento que ganha um punhado de gente. Mas isso, realmente, não contribui nem com as pessoas, nem para melhorar a economia. Infelizmente, não é um bom caminho.
Seria melhor investir mais na base, então?
É preciso fazer um pouco das duas coisas. O que dá mais resultado é prevenir, fazer bem feito a primeira vez. Mas existe uma realidade com a qual é preciso lidar. Mas a forma de lidar e o custo é muito alto. A chance de sucesso desses programas de recuperação, de conserto, é muito baixa. Tem que ser feito, são pessoas humanas, tem que dar uma chance. Mas a chance de sucesso é baixa. É preciso adotar programas muito calibrados, muito bem regulados para não perder dinheiro.
Leia também: Entre alfabetização e diversidade, a melhor escolha é a alfabetização
Qual a sua expectativa em relação às medidas do novo governo voltadas à educação?
A equipe que veio é uma equipe que não tem uma tradição, uma experiência grande na gestão de coisas da educação. Mas eu não vejo com maus olhos uma pausa para respirar um pouco e pensar em novas formas de atuação. Uma quebra, interrupção na forma de ação do MEC eu acho que é bom, pois não está funcionando bem, aumenta recurso, custos, uma série de programas e intervencionismo e não dá resultado. Uma parada para pensar o rumo não fará mal.
Essa questão de uma descentralização maior, menos intervencionismo, eu acho que é um conjunto de ideias que podem frutificar. Até aqui, pelo menos, parece que a educação ainda não está ocupando um lugar muito central. Mas é preciso um pouco de tempo e paciência para ver se vai conseguir se materializar, é um ministério muito grande, muito recurso, muito interesse, então não é fácil fazer nada.
Eu acho que os grandes avanços que vão beneficiar a educação, no curto e médio prazo, podem vir da área econômica. O maior inimigo da educação é a pobreza, o desemprego. Se você melhorar essas coisas, indiretamente, vai melhorar muito a educação. Eu espero que essa ala do governo traga dias melhores para o país.
Leia também: MEC estuda “Exame de Ordem” para professor no futuro



