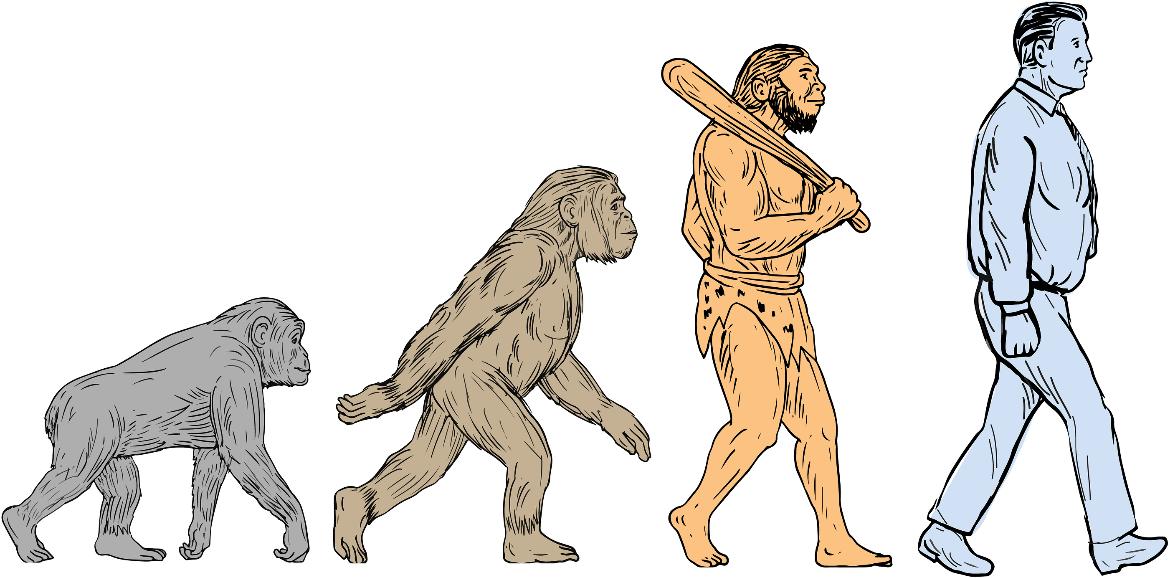
Olhei o dia: posto em silêncio
E a totalidade dos homens tornara-se barro.
Gilgamesh
Yuval Noah Harari é o novo garoto propaganda da misantropia, o distópico do momento. Seus livros ‘Sapiens – Uma breve história da humanidade (2011)’ e ‘Homo Deus – Uma breve história do amanhã (2015)’ estão no topo das listas de best-sellers. Foram traduzidos para mais de 45 línguas estrangeiras. As pessoas comentam suas ideias inquietantes. Levam os grandes tomos que têm, em média, cerca de 400 a 500 páginas nos vagões dos metrôs, nos ônibus, nas festas com os amigos sofisticados e com as madames emplumadas.
Citá-los tornou-se a prova maior de que este tipo de leitor é mais do que inteligente: é alguém brilhante, inquestionavelmente brilhante e que, de brinde, lê um dos livros favoritos de Mark Zuckerberg. Na comunidade científica, olham-no com suspeita; na filosófica, Harari é visto como alguém em território inapropriado.
Ele merece toda essa comoção? E mais: seus livros — em conjunto com suas ideias — são realmente relevantes?
O próprio fato de ter de fazer essas perguntas indica como já não pensamos mais corretamente. A questão não é a respeito de ruído midiático ou de relevância intelectual. É a respeito do indício de que Harari mexe profundamente com o modo como pensamos a nossa natureza humana — e como seus livros, justamente por causa do impacto que têm em um mundo tão provisório como o nosso, podem colaborar na alteração efetiva do que conhecemos como “o homem”.
É o paradoxo do conhecimento, algo que, aliás, o próprio Harari fala a respeito em algumas páginas de ‘Homo Deus’. A partir do momento que um novo dado é divulgado na sociedade, ela passa a alterá-lo, justamente para que a profecia não se cumpra. “Conhecimento que não muda o comportamento é inútil”, escreve o professor de História da Universidade de Jerusalém, conhecido anteriormente por tratados acadêmicos sobre guerra e estratégia militar.
“Mas aquele que muda o conhecimento perde rapidamente a relevância. Quanto mais dados tivermos e quão melhor compreendermos a história, mais rapidamente a história alterará seu curso, e mais rapidamente nosso conhecimento se tornará obsoleto”.
Contudo, é evidente que, ao sair do meio acadêmico para ser um autor mais popular com dois livros de divulgação científica, Harari pretende ou confirmar esse “paradoxo do conhecimento” ou então superá-lo. Afinal de contas, nenhum autor deseja que suas ideias percam a relevância no mundo que pretende transformar. Não se trata apenas de um “paradoxo do escritor”. Trata-se da própria essência do intelectual. E Harari, sem dúvida, é atualmente um dos membros mais influentes desta casta.
Portanto, a pergunta correta a ser feita é: o que o autor israelense deseja ao escrever e publicar ‘Sapiens’ e ‘Homo Deus’, se ele usa o “paradoxo do conhecimento” como base das suas investigações e previsões, mas, ao mesmo tempo, não deseja ser capturado por essa mesma armadilha? Eis o verdadeiro mistério que este texto pretende esclarecer ao leitor.
Origem e fim da raça humana
Apesar de terem sido publicados em uma diferença de seis anos, ‘Sapiens’ e ‘Homo Deus’ formam, na verdade, um único tratado – e em torno de um único tema: a origem e o destino final da raça humana. Sem dúvida, a ambição de Harari é enorme e, só por isso, deve ser louvada em termos de escopo intelectual. O único problema do trabalho dele é que, na hora de se preocupar com as necessidades do homem como conceito abstrato, ele se esquece do ser humano concreto, composto de carne, osso, sangue, vísceras – e de uma alma.
O leitmotiv da unidade indivisível e da existência factual do indivíduo é importantíssimo para se entender quais são as consequências morais de se levar a sério os raciocínios de Harari. Para isso ser efetivo em termos retóricos, é fundamental ampliar a história humana em um grande panorama — e, logo, generalizá-lo de acordo com algumas regras básicas de interpretação do mundo (ou, se quisermos ser mais precisos, de cosmovisão, em homenagem ao velho e bom Mario Ferreira dos Santos).
A primeira delas é a crença já plenamente dada — e inserida no texto sem nenhuma pergunta posterior — naquilo que os historiadores influenciados pela biologia chamam de “evolução humana”.
Logo no primeiro capítulo de ‘Sapiens’, Harari já mostra a que veio ao afirmar, sem nenhuma hesitação, que o Homo sapiens, durante muito tempo, “preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos e, o que é mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso não é simplesmente verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa de grandes primatas. Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve duas filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés; a outra é nossa avó”.
Revolução cognitiva
E é assim, com essa mesma naturalidade, que Harari passa a discorrer sobre o que ele – e outros historiadores fascinados pela “psicologia evolutiva” – chamam de “o esqueleto no armário”.
Segundo essa perspectiva, nós, os sapiens, não só “temos inúmeros primos não civilizados, como também tivemos irmãos e irmãs”, numa classificação biológica que organiza “os organismos em espécies”. Aqui, os biólogos “consideram que os animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis”.
Por exemplo: “cavalos e jumentos têm um ancestral recente em comum e partilham muitos traços físicos, mas demonstram pouco interesse uns pelos outros. Acasalam entre si se forem induzidos a isso – entretanto seus descendentes, chamados mulas, são estéreis. Mutações no DNA dos jumentos podem nunca ter passado para os cavalos, e vice-versa. Os dois tipos de animais são consequentemente considerados duas espécies diferentes, trilhando caminhos evolucionários distintos. Já um buldogue e um spaniel podem ser muito diferentes em aparência, mas são membros da mesma espécie, partilhando a mesma informação de DNA. Acasalam entre si alegremente, e seus filhotes, ao crescer, cruzam com outros cachorros e geram mais filhotes”.
Para Harari, o que diferencia a evolução dos Homo sapiens com a dos outros animais foi a “Revolução Cognitiva”. Foi graças a ela que, nos últimos 70 mil anos, eles conseguiram “tornar possível um número ilimitado de Sapiens em uma única rede de processamento de dados. Isso [lhes] deu uma vantagem crucial sobre todas as outras espécies humanas e animais. É limitado o número de neandertais, chimpanzés ou elefantes que podem se conectar à mesma rede, mas não há limite para o número de Sapiens”.
O uso da expressão “processamento de dados” já dá uma amostra de como Harari vê o ser humano: uma espécie de computador orgânico, capaz de usar “sua vantagem no processamento de dados para invadir o mundo inteiro. No entanto, enquanto [os Sapiens] se espalhavam por diferentes terras e climas, perderam o contato entre si e passaram por transformações culturais diversas. O resultado foi uma imensa variedade de culturas humanas, cada um com seu estilo de vida, comportamento e visão de mundo”, uma variedade que, para dar certo, precisou existir como uma ficção, uma invenção perpétua na qual passamos a acreditar — e assim podermos nos comunicar e, mais, nos unir como espécie.
Revolução agrícola
Depois, tivemos a “Revolução Agrícola”, que “prosseguiu até a invenção da escrita e do dinheiro, há cerca de 5 mil anos” – dois instrumentos que provariam a vitória da ficção que criamos para nós mesmos, graças ao que aconteceu na “Revolução Cognitiva”.
Neste período, “a agricultura acelerou o crescimento demográfico, o que fez o número de processadores humanos crescer abruptamente”, eliminando assim outras espécies, como os neandertais, além de aperfeiçoar ainda mais o uso da natureza, deixando o sapiens como seu único senhor e, posteriormente — por algum desses paradoxos da existência —, um dependente completo dos ciclos da natureza.
Junto com a reviravolta cognitiva, a agricultura propiciou que, ao mesmo tempo, “muito mais pessoas vivessem juntas no mesmo lugar, gerando redes locais densas que continham um número inédito de processadores. Em acréscimo, a agricultura gerou incentivos e oportunidades para diferentes redes [de conhecimento] negociarem e se comunicarem. Não obstante, durante a segunda fase as forças centrífugas continuaram predominantes. Por não haver escrita nem dinheiro, humanos não puderam estabelecer cidades, reinos ou impérios. O gênero humano ainda estava dividido em inumeráveis tribos, cada uma com um estilo de vida e visão de mundo próprios. A ideia de unificar o gênero humano não existia nem mesmo como uma fantasia”.
Revolução científica
Contudo, essa “metafísica da unidade” (a expressão é de Albert Camus) – talvez o fundamento existencial do que conhecemos como modernidade – formaliza-se por completo quando temos a invenção da escrita e do dinheiro há cerca de 5 mil anos. É o que chamamos de “Revolução Científica”, na qual “o campo gravitacional da cooperação humana finalmente se sobrepôs às forças centrífugas. Grupos humanos ligaram-se e fundiram-se para formar cidades e reinos.
Pelo menos desde o primeiro milênio antes de Cristo — quando surgiram a cunhagem de moedas, os impérios e as religiões universais —, os humanos começaram a sonhar conscientemente em forjar uma rede única que abrangesse o globo”. Segundo Harari, as pesquisas feitas na “Revolução Científica” permitiram ao ser humano que ele soubesse da “descoberta da ignorância” que então dominava sua percepção da realidade.
Para acabar com essa “ignorância”, o ser humano passou a expandir o seu poder e transformar o sonho de ter o mundo aos seus pés em algo concreto, “durante o quarto e último estágio da história, que começou por volta de 1492”, quando “os primeiros exploradores modernos, conquistadores e comerciantes teceram os primeiros e finos fios que abrangiam o mundo inteiro. No período moderno tardio, esses fios ficaram mais fortes e mais densos, de modo que a teia de aranha da época de [Cristóvão] Colombo se tornou a grade de aço e asfalto do século XXI. Mais importante ainda, permitiu-se que a informação fluísse cada vez mais livremente ao longo dessa grade global. Quando Colombo conectou pela primeira vez a rede eurasiana na rede americana, só uns poucos bits de dados eram capazes de cruzar o oceano a cada ano, enfrentando o desafio dos preconceitos culturais, de uma rígida censura e da repressão política. Mas, com o passar dos anos, o livre mercado, a comunidade científica, o reinado da lei e a disseminação da democracia ajudaram, todos, a suspender as barreiras. Frequentemente imaginamos que a democracia e o livre mercado venceram porque são ‘bons’. Na verdade, venceram porque melhoraram o sistema global de processamento de dados”.
Fica claro, neste resumo da “história numa casca de noz” (como ‘Homo Deus’ resume os argumentos principais das mais de 400 páginas de ‘Sapiens’), que Harari encontrou um sentido pleno e acabado dentro do nosso curso histórico – ou melhor, uma narrativa que dá coerência ao seu raciocínio. Segundo esta perspectiva, a humanidade ruma para uma unidade plena, cuja representação política máxima seria a sociedade global que sufocaria de uma vez todos os Estados nacionais, substituindo o nacionalismo ou o patriotismo por uma globalização que, inspirada pelo fenômeno da “memética”, vê, de acordo com os especialistas que criaram esse panorama, “as culturas como um tipo de infecção ou parasita mental, sendo os humanos seus hospedeiros involuntários.
Parasitose cultural
Os parasitas orgânicos, como os vírus, vivem dentro do corpo de seus hospedeiros. Eles se multiplicam e se espalham de um hospedeiro a outro, alimentando-se deles, enfraquecendo-os e, às vezes, até os matando. Contanto que os hospedeiros vivam o bastante para transmitir o parasita, este pouco se importa com a condição em que seu hospedeiro se encontra.
Da mesma forma, as ideias culturais vivem dentro da mente dos humanos. Elas se multiplicam e se disseminam de um hospedeiro a outro, às vezes enfraquecendo os hospedeiros e até mesmo os matando.
Uma ideia cultural — tal como a crença no paraíso cristão nos céus ou no paraíso comunista aqui na Terra — pode forçar um ser humano a dedicar sua vida a espalhá-la, às vezes tendo a morte como preço. O humano morre, mas a ideia se espalha. Segundo essa abordagem, as culturas não são conspirações de algumas pessoas para tirar vantagem de outras (como os marxistas tendem a pensar). Ao contrário, as culturas são parasitas mentais que surgem acidentalmente e, depois, tiram vantagem de todas as pessoas infectadas por elas”.
Desse raciocínio que parece ter saído da boca do Agente Smith — o assustador personagem cibernético interpretado por Hugo Weaving na trilogia Matrix, criada pelas irmãs Wachowski —, Harari não hesita nem um pouco ao ver a experiência religiosa e as ideologias políticas (em especial aquilo que Lionel Trilling chama de “a imaginação liberal) como os exemplos supremos de “parasitas mentais”.
No primeiro caso, a religião é um tipo de “realidade intersubjetiva”, uma ficção a mais que nos ajudaria a suportar a crueldade da condição humana. Tanto em ‘Homo Deus’ como em ‘Sapiens’, o historiador faz uma divisão bem esquemática de como percebemos o real. De acordo com sua teoria, o ser humano teria dificuldade de entender a ideia de “ordens imaginadas” porque ele presume que “há somente dois tipos de realidade: a realidade objetiva e a realidade subjetiva. Na primeira, as coisas existem independentemente de nossas crenças e sentimentos. A gravidade, por exemplo, é uma realidade objetiva. Ela existia muito antes de Newton e afeta pessoas que não acreditam nela tanto quanto aquelas que existem”.
Realidade subjetiva
Já a realidade subjetiva, segundo a definição de Harari, “depende das minhas crenças e sentimentos pessoais. Assim, suponha que eu sinta uma forte dor de cabeça e vá ao médico. O profissional me examina meticulosamente, mas não acha nada de errado. Então solicita exames de sangue e de urina, teste de DNA, eletrocardiograma, ressonância magnética funcional e uma série de outros procedimentos. Quando chegam outros resultados, ele anuncia que estou perfeitamente saudável e que posso ir para casa. No entanto, ainda sinto uma forte dor de cabeça. Embora exames muito objetivos não tenham detectado nada de errado comigo, apesar do fato de que ninguém, a não ser eu, sente a dor, para mim ela é real”.
Dividido entre essas duas realidades, o homem presume que não há uma terceira opção – e passa a pensar que, se a ideia que ele tem de que “algo não é apenas um sentimento objetivo”, então chega “à conclusão de que ele tem de ser objetivo. Se muitas pessoas acreditam em Deus, se o dinheiro faz o mundo girar, se o nacionalismo desencadeia guerras e constrói impérios – então isso não é apenas uma crença subjetiva. Deus, o dinheiro e as nações devem ser realidades objetivas”.
Contudo, é necessário que exista um terceiro nível de realidade para que essas ideias se transformem em verdadeiros “parasitas mentais”, capazes de contaminar, por meio da “memética”, toda uma cultura. Estamos falando do “nível intersubjetivo”, entidades que “dependem da comunicação entre humanos” — uma das grandes novidades provocadas pela “Revolução Cognitiva” e aperfeiçoada pela “Revolução Científica” —, e “não das crenças e dos sentimentos de humanos individualmente.
Muitos dos mais importantes agentes da história são intersubjetivos.
O dinheiro, por exemplo, não tem valor objetivo. Não se pode comer, beber ou vestir uma nota de um dólar. Porém, como bilhões de pessoas acreditam que ele tem valor, pode-se usá-lo para comprar alimento, bebidas e roupas. Se o padeiro perder subitamente sua fé na nota de dólar e se recusar a me dar um pão em troca desse pedaço de papel verde, isso não tem muita importância. Basta atravessar alguns quarteirões e ir até o supermercado mais próximo. No entanto, se os caixas de supermercado também se recusarem a aceitar esse pedaço de papel, assim como os feirantes e os vendedores no centro comercial, então o dólar terá perdido seu valor. Os pedaços de papel continuarão a existir, é claro, mas sem nenhum valor”.
Essa noção de que o dinheiro é uma “realidade intersubjetiva” se estende igualmente para o modo como Harari analisa a experiência religiosa, uma vez que, no passado longínquo, “geralmente as pessoas também se comprazem em saber que os antigos deuses gregos, impérios malignos e valores de culturas estrangeiras só existem em nossa imaginação. Mas ainda não queremos aceitar que nosso Deus, nossa nação, nossos valores são apenas ficção porque é isso que dá sentido a nossa vida. Queremos crer que nossa vida tem algum significado objetivo e que nossos sacrifícios têm importância para algo que está além das histórias em nossa cabeça. Na verdade, contudo, a vida da maioria das pessoas só tem significado dentro da rede de histórias que elas contam umas para as outras”.
Na narrativa sofisticada que encontramos em ‘Sapiens’ e ‘Homo Deus’, a História é uma “teia de significados” que, durante séculos e séculos, fia e se desfia — e estudá-la “significa observar a tecedura e o desfazimento dessa teia e dar-se conta de que o que parece ser o que há de mais importante na vida de alguém em determinado período torna-se para seus descendentes algo totalmente desprovido de significado”.
Neste ponto, tanto a experiência religiosa como as ideologias políticas sofrem do mesmo problema: a transitoriedade. Para Harari, elas não passam de uma mera crença, jamais de fatos objetivos que, misteriosamente, deveriam se relacionar com uma consciência subjetiva e individual.
Para relembrar Guimarães Rosa, deixam de ser História para serem uma estória a mais, na qual “pessoas tecem uma rede de significados, acreditam nela piamente, porém mais cedo ou mais tarde a teia se desfaz, e, quando olhamos para trás, não conseguimos compreender como alguém a levou a sério. Em retrospecto, sair numa cruzada com a esperança de alcançar o Paraíso soa como completa loucura. Em retrospecto, a Guerra Fria parece ser ainda mais insana. Como é que trinta anos atrás alguém pôde querer arriscar um holocausto nuclear em razão de sua crença num paraíso comunista? Daqui a cem anos, nossa crença na democracia e nos direitos humanos pode igualmente parecer incompreensível para nossos descendentes humanos”.
Religião política
Classificar Harari como um “relativista” é não querer perceber que sua intenção ao escrever esses livros tem um interesse mais profundo e, por estranho que isso pareça ser, mais duradouro. Uma pista disso é quando ele começa a discorrer sobre a ideologia política que, segundo seu ponto-de-vista, seria a verdadeira religião que fundamenta a democracia — o liberalismo.
O surgimento desta “religião política” só se tornou constante nas nossas vidas porque, após as Revoluções Agrícola e Científica, a humanidade não só “silenciou animais e plantas e transformou a grande ópera animista num diálogo entre o homem e deuses” como também, alguns milhares de anos depois, ela “silenciou os deuses”, com o gênero humano “sozinho num palco vazio, falando sozinho consigo mesmo, negociando com ninguém e adquirindo poderes enormes sem nenhuma obrigação. Depois de decifrar as leis mudas da física, da química e da biologia”, a humanidade “agora faz com elas o que quiser”.
Este “progresso do abandono” (segundo Massimo Cacciari) de qualquer espécie de divindade transformou o Homo sapiens em Homo deus – ou seja, “enquanto a Revolução Agrícola deu origem às religiões teístas, a Revolução Científica fez nascerem as religiões humanistas, nas quais humanos substituem deuses. Os teístas cultuam theos (‘deus’, em grego), e os humanistas cultuam humanos.
A ideia fundamental das religiões humanistas, como o liberalismo, o comunismo e o nazismo, é que o Homo sapiens tem uma essência única e sagrada, fonte de todo o sentido e de toda a autoridade no Universo. Tudo o que acontece no cosmo é considerado bom ou mais de acordo com o impacto que exerce sobre o Homo sapiens”.
Humanismos
Contudo, o liberalismo não pode ser visto como um bloco monolítico de ideias. Como qualquer religião bem-sucedida, ela vive de cismas internos, que se multiplicam e, por isso, devem ser agrupados em três ramos principais. O primeiro é o “humanismo liberal”, no qual afirma que “todo ser humano é um indivíduo único possuidor de uma voz interior que o distingue e de uma sequencia irreproduzível de experiências”.
O segundo é o “humanismo socialista” (que abrange tanto os socialistas, obviamente, como os comunistas), cuja característica principal é a crença de que “a paz global será alcançada não celebrando a singularidade de cada nação” — como pretende o “humanismo liberal” —, e sim “pela união de todos os trabalhadores do mundo; a harmonia social não será alcançada por cada um que explorar narcisisticamente suas profundezas, mas por aquela pessoa que priorizar as necessidades e as experiências de outros em detrimento dos próprios desejos”.
E o terceiro é o “humanismo evolucionário”, que se baseia no “terreno firme da teoria evolutiva darwiniana”, acreditando que, para ele, “o conflito é algo a ser aplaudido, e não lamentado. O conflito é a matéria-prima da seleção natural, que impulsiona a evolução adiante. Alguns humanos simplesmente são superiores a outros, e, quando experiências humanas colidem, os humanos mais aptos devem prevalecer sobre quaisquer outros. A mesma lógica que leva o gênero humano a exterminar lobos selvagens e a explorar carneiros domesticados também comanda a opressão de humanos inferiores por seus superiores. É bom que europeus conquistem africanos e que homens de negócios sagazes levem os incompetentes à bancarrota. Se seguirmos essa lógica evolutiva, o gênero humano irá se tornar gradualmente mais forte e mais apto, fazendo surgir os super-humanos. A evolução não parou com o Homo sapiens — ainda há um longo caminho a percorrer. No entanto, se em nome dos direitos humanos ou da igualdade humana enfraquecermos os humanos mais aptos, isso evitará o surgimento do super-homem e poderá mesmo causar a degeneração e a extinção do Homo sapiens”.
O que dá unidade a esses tipos de liberalismo é a abertura para escutar uma voz interior — e o fato de que é esta mesma voz que distinguiria o ser humano como um indivíduo. Portanto, por ser alguém único e indivisível, o homem teria a chance de praticar a sua liberdade por meio da faculdade do livre-arbítrio — que seria, por sua vez, a prova concreta de que o sapiens também possui uma alma.
Aqui, Harari prova ser um adepto do “liberalismo evolucionista” (por mais que ele abomine os nazistas, inclusos nesta mesma classificação) pois, logo adiante, afirma categoricamente, sempre com o auxílio de um suposto argumento científico que parece ter caído do céu, que nunca foi provado de que o homem realmente teria uma alma — e, ergo, é muito provável que tanto a liberdade como o livre-arbítrio, noções de indivíduo nas quais se baseiam o liberalismo, sejam meras ilusões construídas por nós mesmos com o intento de criarmos nossa “teia de significados”.
“Resolver a morte”
Esta suposição arriscada de Harari é ampliada para o modo como o próprio ser humano começará a entender a sua natureza e também para o modo como ele construirá o seu futuro. E aqui começa a previsão histórica que, aparentemente, deveria destruir a obra de Harari, se insistirmos no seu “paradoxo do conhecimento”: a dos três rumos que a humanidade percorrerá para enfim cumprir a única lei que nos resta obedecer — a da evolução.
De acordo com o autor de ‘Homo Deus’, o nosso futuro girará em torno de três procuras aparentemente específicas, mas que se articulam entre si: a busca da imortalidade, da felicidade e da divindade.
Na primeira, a morte é vista apenas como um problema técnico, no qual “não é preciso esperar pela volta de Cristo à Terra” para superá-la. Já é assim no nosso cotidiano, quando tratamos de uma gripe ou quando analisamos um evento extremo como um furacão e acreditamos que poderíamos ter enfrentado como se fosse uma simples falha técnica.
Mas é na ciência que se fala mais abertamente sobre esse assunto, com cientistas declarando de maneira explícita que a “principal empreitada da ciência moderna é derrotar a morte e garantir aos humanos a juventude eterna. Exemplos notáveis são o gerontologista Aubrey de Grey e o polímata e inventor Ray Kurzweil (ganhador da Medalha Nacional dos Estados Unidos para Tecnologia e Invenção em 1999). Em 2012, Kurzweil foi nomeado diretor de engenharia no Google, e um ano depois o Google lançou uma subcompanhia chamada Calico, cuja missão declarada é ‘resolver a morte’.
Recentemente o Google nomeou outro verdadeiro crente na imortalidade, Bill Maris, para presidir o fundo de investimentos Google Ventures. Em uma entrevista concedida em janeiro de 2015, Maris disse: ‘Se vocês me perguntarem hoje se é possível viver até os quinhentos anos, a resposta é sim’.
Maris dá suporte a suas corajosas palavras com investimentos pesados. O Google está investindo 36% de sua carteira de 2 bilhões de dólares em start-ups na área da biociência, inclusive projetos ambiciosos relacionados com a prorrogação da vida. Empregando uma analogia com o futebol americano, Maris explicou que na luta contra a morte ‘não estamos tentando avançar algumas jardas. Estamos tentando ganhar o jogo’. Por quê? Porque, segundo ele, ‘viver é melhor do que morrer’”.
A união da tecnologia com a fuga da morte nos traz a esperança de que a felicidade se tornará uma espécie de direito permanentemente adquirido.
Por causa da experiência concreta de que vivemos em uma terra provisória, ou naquilo que os salmos bíblicos chamam de “vale de lágrimas”, a felicidade antes era vista como uma “busca pessoal”, praticamente intransferível; contudo, com a modernidade, o que era algo individual tornou-se um bem coletivo, no qual o Estado é obrigado a suprir e, caso isso não aconteça, terá de pressionar os seus cidadãos para que cada um colabore com a felicidade do outro, seja por meio de coerção legal (as “ações afirmativas” que fazem a alegria do politicamente correto), seja por meio de experimentos bioquímicos que alterem a psique do sujeito e convença a si mesmo que ele será “constantemente feliz”.
O fim do ‘Homo sapiens’
Mas quem vigiaria esse “grande experimento social” para que a sociedade saiba qual é a felicidade “ruim” e qual é a felicidade “boa”? Para Harari, esse papel caberia ao Estado, uma vez que ele seria guiado por um “princípio claro”: o de que “as manipulações bioquímicas que fortalecem a estabilidade política, a ordem social e o crescimento econômico são permitidas e até mesmo estimuladas (como aquelas que acalmam crianças hiperativas na escola ou empurram soldados amistosos para a batalha).
Manipulações que ameacem a estabilidade e o crescimento são banidas.
Mas a cada ano surgem novas drogas nos laboratórios das universidades, companhias farmacêuticas e organizações criminosas, e as necessidades do Estado e do mercado também continuam mudando. À medida que se acelera, a busca bioquímica da felicidade reconfigura a política, a sociedade e a economia. E fica cada vez mais difícil mantê-la sob controle”.
A expansão global da felicidade, rumo a um mundo que se unifica para um projeto de unidade espiritual e de território, faz crescer ainda mais a pretensão humana de que todos podem alçados à “condição de deuses” — a busca da divindade que seria o ápice das procuras pela imortalidade e pela felicidade.
Contudo, ser um novo deus na Terra só aconteceria se a natureza humana se reformar completamente por meio da engenharia biológica, da engenharia cibernética e da engenharia de seres não orgânicos.
Seja lá qual for o caminho tomado para que isso aconteça, Harari deixa claro que o resultado só pode ser um: “assim que a tecnologia permitir a reengenharia das mentes humanas, o Homo sapiens vai desaparecer, a história humana caminhará para seu fim, e um tipo de processo novo vai surgir, incompreensível para pessoas como você e eu”.
Este não será um processo apocalíptico que acontecerá em um “piscar de olhos”, como muitos supõem, mas acontecerá de maneira gradual, já que o “Homo sapiens não vai ser exterminado por um levante de robôs. É mais provável que sua atualização ocorra passo a passo, fundindo-se no processo com robôs e computadores, até que nossos descendentes olham para trás e se deem conta de que não são mais o tipo de animal que escreveu a Bíblia, construiu a Grande Muralha da China e riu das graças de Charles Chaplin. Isso não vai acontecer em um dia nem em um ano. Na verdade, já está acontecendo neste momento como resultado de inúmeras ações cotidianas. Todo dia milhões de pessoas decidem dar a seu smartphone um pouco mais de controle sobre suas vidas, ou experimentam uma droga antidepressiva nova e mais eficaz. Na busca de saúde, felicidade e poder, os humanos modificarão primeiro uma de suas características, depois, e outra, até não serem mais humanos”.
Dataísmo
Com isso, o liberalismo humanista que organizava a nossa visão de mundo religiosa em um mundo completamente desencantado com um sagrado objetivo e transcendente, graças à Revolução Científica, passa a ser substituído, com dolorosa lentidão, por aquilo que Harari chama de “dataísmo”, a religião dos dados, ou “tecno-humanismo”. O homem deixa de ter qualquer componente que possa caracterizá-lo como um “humano” ou como um “indivíduo”.
Ele é apenas mais um algoritmo que, segundo a definição de Harari, trata-se do “conceito singular mais importante do nosso mundo”, um “conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Não se trata de um cálculo específico, mas do método empregado quando se fazem cálculos. Por exemplo, quando se quer calcular a média entre dois números, pode-se usar um algoritmo simples. O algoritmo estabelece: ‘Primeiro passo: obtenha a soma dos dois números. Segundo passo: divida a soma por 2’. Com relação aos números 4 e 8, por exemplo, o resultado é 6. Com 117 e 231, o resultado é 174”.
Um ser humano seria um algoritmo muito mais complexo, sem dúvida, mas ainda assim um algoritmo que cumpre exatamente a mesma função: fornecer e transmitir informações por meio da redução de padrões de comportamento.
Segundo Harari, o dataísmo “nasceu da confluência explosiva de duas marés científicas.
Nos 150 anos que transcorreram desde que Darwin publicou ‘A origem das espécies’, as ciências biológicas passaram a ver os organismos como algoritmos bioquímicos. Simultaneamente, nas oito décadas desde que Alan Turing formulou a ideia da máquina que leva seu nome, cientistas da computação aprenderam a projetar e fazer funcionar algoritmos eletrônicos cada vez mais sofisticados.
O dataísmo reúne os dois, assinalando que exatamente as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos como aos eletrônicos. O dataísmo, portanto, faz ruir a barreira entre animais e máquinas com a expectativa de que, eventualmente, os algoritmos eletrônicos decifrem e superem os algoritmos bioquímicos”.
Assim como o que aconteceu antes com o liberalismo humanista, a religião do dataísmo tornou-se uma espécie de “Santo Graal científico” que, na verdade, pode ser igualmente apenas uma ilusão, pois ao ser “uma teoria única e científica capaz de unificar todas as disciplinas científicas, da literatura e musicologia à economia e à biologia”, o dataísmo afirma que “a Quinta Sinfonia de Beethoven, uma bolha do mercado de ações e o vírus da gripe são apenas três padrões de dados cujos fluxos podem ser analisados por meio dos mesmos conceitos básicos e das mesmas ferramentas”, oferecendo assim a “todos os cientistas uma linguagem comum”, além da construção de “pontes sobre brechas acadêmicas e exporta facilmente insights através de fronteiras disciplinares”.
Oráculos modernos
Se no aspecto especulativo o “tecno-humanismo” parece ser um assunto de ficção-científica, na vida real ele vai de vento em popa, como comprovamos quando, por exemplo, lidamos com um item que faz parte intensamente no nosso cotidiano — o Waze, “um aplicativo de navegação baseado em GPS usado por muitos motoristas”. Conforme a explicação de Harari,
“O Waze não é apenas um mapa. Seus milhões de usuários o atualizam constantemente com informações sobre engarrafamentos, acidentes e a presença de carros de polícia. Por isso, o Waze sabe desviar do tráfego pesado e levá-lo a seu destino pela rota mais rápida. Quando você chega a um cruzamento e seu instinto visceral lhe diz para dobrar à direita, mas o Waze o instrui a virar à esquerda, os usuários cedo ou tarde acabam aprendendo que é melhor aceitar a orientação do Waze do que acreditar nos próprios sentimentos.
À primeira vista parece que o algoritmo do Waze atua apenas como um oráculo. Fazemos uma pergunta, o oráculo responde, mas cabe a nós tomar uma decisão. Se o oráculo conquistar nossa confiança, no entanto, o próximo passo lógico consiste em admiti-lo como um agente. Fornecemos ao algoritmo somente o objetivo final, e ele age para atingi-lo sem nossa supervisão.
No caso do Waze, isso pode acontecer quando o conectamos a um carro autônomo [guiado por uma inteligência artificial] e dizemos Waze “pegue a rota mais rápida para casa”, “Pegue a rota com mais paisagens” ou “Pegue a rota que resulte na menor poluição possível”. Nós damos as cartas, porém deixamos a cargo do Waze executar o comando.
Finalmente, o Waze pode se tornar soberano. Com tanto poder em suas mãos, e sabendo muito mais do que nós sabemos, pode começar a nos manipular, moldando nossas vontades e tomando decisões em nosso lugar. Por exemplo, suponha que, pelo fato de o Waze ser tão bom, todo mundo comece a utilizá-lo. E suponha que haja um engarrafamento na rota 1, enquanto a rota alternativa 2 está relativamente livre. Se o Waze deixar que todos tomem conhecimento disso, então todos os motoristas vão correr para a rota 2, e ela também vai ficar sobrecarregada.
Quando todo mundo usa o mesmo oráculo, e todo mundo acredita nele, o oráculo torna-se um soberano. Assim, o Waze tem de pensar por nós. Talvez informe só metade dos motoristas de que a rota 2 está livre, ocultando essa informação da outra metade. Agindo assim, vai diminuir a pressão sobre a rota 1 sem bloquear a rota 2” (grifos nossos).
O exemplo dado mostra como o “tecno-humanismo” já destruiu completamente a nossa ilusão de que temos um livre-arbítrio e que, portanto, somos incapazes de praticar a nossa liberdade de maneira absolutamente individual. Hoje, há oráculos que não sabem mais ler a nossa alma porque nós nos esquecemos de tê-la – se alguma vez ela existiu na existência histórica. A pergunta mais perturbadora que a obra de Yuval Noah Harari impõe a respeito da nossa natureza – e que ainda não tivemos a coragem de responder – é a seguinte: será que não somos criaturas de nós mesmos, criações feitas a partir de um barro que, ao receber o sopro da vida, criou essa metáfora apenas para continuarmos iguais à lama petrificada que nos sustenta?
3.
O raciocínio de Harari só tem sentido ao leitor se este admitir, sem nenhum questionamento, as duas cosmovisões que dão coerência e verossimilhança ao seu projeto narrativo – a da evolução darwinista e a do cientificismo. E, no caso, em relação à “evolução darwinista”, já temos um problema na sua própria denominação, uma vez que, em primeiro lugar, Charles Darwin, o famoso biólogo e autor de A origem das espécies e de A descendência do homem, nunca aplicou o princípio da evolução em seus estudos – e sim o da seleção natural, algo completamente diferente.
Atualmente, o cidadão leigo usa os dois termos como se fossem sinônimos ou conceitos intercambiáveis, o que não teria nenhum problema se, na nossa época, não fossem os cientistas que fazem justamente essa confusão. Este é o argumento principal que existe contra Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris, Steven Pinker e o próprio Harari, supostos homens de ciência que, na verdade, se revelam como propagandistas do cientificismo ou, até mesmo, apóstolos desta pseudo-religião que se tornou o darwinismo. Eles confundem propositadamente os termos para assim prejudicar a capacidade cognitiva dos leigos, impressionando-os com truques retóricos que não têm outra intenção, exceto a de atacar qualquer amostra de experiência religiosa objetiva ocorrida no curso da História.
Vejamos, então, qual seria a diferença entre os princípios da seleção natural e o da evolução. De acordo com Etienne Gilson, em seu livro From Aristotle to Darwin and Back Again – cujo tema é sobre se há ou não uma causa final (telos, em grego) na natureza –, a preocupação principal de Darwin era detectar, por meio da observação científica empírica, como se dava a seleção natural entre as espécies. A evolução – ou o evolucionismo – surgiu das conclusões de Darwin como uma forma de absorver o impacto da derrubada do muro que separava o homem do primata, algo que, na verdade, o biólogo inglês só afirmaria explicitamente no final da vida, em especial no pequeno tratado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais (1872). Até então, era muito cuidadoso para expressar tais ideias, justamente porque tinha plena consciência da ruptura que poderia ocorrer no establishment científico da Inglaterra vitoriana. A grande surpresa de Darwin foi que ele encontrou um ambiente extremamente receptivo à conclusão das suas experiências – e a surpresa cresceu ainda mais quando descobriu que sua obra tinha defensores ardorosos, como Herbert Spencer e Thomas Huxley (o principal divulgador do darwinismo e apelidado de “o buldogue de Darwin”). Ele os apoiava em público porque sabia, como poucos, que precisava de aliados para ratificar suas conclusões científicas, mas, no privado, como deixa claro em vários trechos de sua Autobiografia (publicada postumamente por seu filho), também os via com muita reserva, em especial Huxley, que achava ser cientificamente iletrado.
Além disso, é interessante notar que o próprio Darwin jamais definiu exatamente, em vida, o que seria o princípio da seleção natural. O que lhe importava era a descrição minuciosa da observação sistemática das plantas e dos animais, a analogia de comportamento que fazia ao perceber certos paralelos dos primatas com os homens e a semelhança que o leigo poderia encontrar entre um e outro, desde que entendesse que cada espécie tivesse uma origem biológica em comum, que depois seria desdobrada graças a diversas mutações – algo semelhante a uma grande e única árvore ramificada em diferentes ramos e folhagens. A seleção natural, para ele, era algo que fazia parte de um conhecimento tácito que qualquer ser humano perceberia se tivesse olhos para ver. Contudo, na mesma Autobiografia que deixou para a posteridade, ele tenta definir aquilo que deveria ter feito enquanto estava no auge das suas forças:
“Os que acreditam, como eu, que todos os órgãos corporais e mentais (excetuados os que não são vantajosos nem desvantajosos para seus possuidores) de todos os seres foram desenvolvidos através da seleção natural, ou da sobrevivência dos mais aptos, juntamente com o uso e o hábito, hão de admitir que esses órgãos foram formados para que seus possuidores pudessem competir com êxito com outros seres e, desse modo, aumentar seu número. Ora, um animal pode ser levado a adotar o curso de ação que for mais benéfico para a espécie através do sofrimento, como na dor, na fome, na sede e no medo, ou através do prazer, como ao comer e beber e na propagação das espécies etc., ou através de uma combinação dos dois meios, como na busca de alimentação. Mas qualquer tipo de dor ou sofrimento, se prolongado por muito tempo, provoca depressão e reduz a capacidade de ação; entretanto, é funcional para levar uma criatura a se proteger de qualquer mal grave ou repentino. As sensações prazerosas, por outro lado, podem continuar por muito tempo, sem nenhum efeito depressivo; ao contrário, elas estimulam o sistema inteiro a um aumento da ação. Daí haver sucedido que a maioria ou a totalidade dos seres sensíveis foi desenvolvida, através da seleção natural, de tal maneira que as sensações prazerosas servem como guias habituais. Podemos ver isso no prazer extraído da atividade enérgica – e até, ocasionalmente, da grande atividade do corpo ou da mente –, no prazer de nossas refeições cotidianas e, especialmente, no prazer extraído da sociabilidade do amor à família. A soma desses prazeres, que são habituais ou se repetem com frequência, dá à maioria dos seres sensíveis um excedente de felicidade em relação ao sofrimento, embora, vez por outra, muitos sofram enormemente. Esse sofrimento é bastante compatível com a crença na seleção natural, que não é perfeita em sua ação, tendendo apenas a tornar cada espécie tão bem-sucedida quanto possível na batalha da vida com outras espécies, em circunstâncias maravilhosamente complexas e mutáveis.” (grifos nossos)
A tal da “sobrevivência dos mais aptos” só ocorre porque, segundo o trecho acima, a natureza impõe, ao animal e ao homem, padrões e hábitos que se tornam constantes – e eles são obrigados a se adaptar não porque querem, e sim porque precisam, criando assim o famoso determinismo biológico com o qual, anos depois, o evolucionismo iria divulgar aos quatro cantos do mundo. Para ter sua eficácia e manter sua coerência interna, o princípio da evolução só poderia se unir com o princípio do progresso tecnológico e histórico – a verdadeira religião que sempre fundamentou o “humanismo liberal” desde os anos 1850, não por coincidência a época na qual Darwin começou a publicar seus estudos revolucionários.
Segundo Maurício G. Righi em Pré-História e História – As instituições e as ideias em seus fundamentos religiosos (uma espécie de resposta sadia a quem quiser se contrapor às teorias perturbadoras de Yuval Noah Harari em Sapiens e Homo Deus), o evolucionismo foi estabelecido de vez, como escola de pensamento antropológico, por volta da década de 1870 e, “a partir daí, a ideia de uma suposta seleção e evolução natural das culturas humanas tomou vulto. Aplicando Darwin, as culturas ‘evoluíram’ naturalmente de formas originalmente mais simples para outras progressivamente mais complexas. Na perspectiva desse pensamento, que se consagrou em definitivo, o núcleo duro das discussões em teoria cultural passou a girar em torno de prováveis cadeias naturais de transformação, tidas como responsáveis pelas mutações mais expressivas na história das sociedades humanas. Com efeito, uma obsessão por estudos sobre as origens (das instituições, ideias, técnicas e estéticas) virou rapidamente moda entre os luminares e acadêmicos da época”.
A fusão do evolucionismo com o princípio da seleção natural levou, obviamente, a um novo desenvolvimento na pesquisa sobre a origem da religião, pois o humanismo liberal precisava, junto com o progresso histórico e tecnológico, se despedir de uma vez das religiões antigas que atrasavam o aperfeiçoamento da espécie humana – entre elas, o cristianismo. Assim, a experiência religiosa como raiz de formação das instituições culturais “passou a ter destaque [...] nos estudos sobre as formas elementares da cultura em suas estruturas formadoras. Na verdade, a religião (certo seria dizer a religio) foi na época colocada no centro das investigações. Na aurora do darwinismo, ansiava-se pelo desvendamento definitivo de sua estrutura elementar, mas, para tal, fazia-se necessário identificar as estruturas menores e supostamente mais simples do religioso, por meio das quais fosse possível explicar, uma vez articulados os dados, o estabelecimento, funcionamento e desenvolvimento das religiões em todas as culturas humanas”.
Righi nos lembra que, apesar de certo fanatismo contemporâneo em suas alegações, ainda assim o evolucionismo tem “duas contribuições indispensáveis ao estudo das instituições e das ideias”. A primeira é que “a perspectiva evolucionista assegurou, de forma sólida, a extrema antiguidade-contiguidade dos processos humanos em seus desenvolvimentos institucionais e técnicos”. Ou seja: ela permitiu que entendêssemos a História como um fluxo progressivo, com uma tradição cultural que se solidifica aos poucos, de acordo com adaptações que poderiam ser comprovadas meio de observações empíricas, de documentos e objetos arqueológicos. E a segunda é que “o evolucionismo sublinhou, de modo contundente, a conformidade biológica de nossa identidade em qualquer tempo e lugar”. Ele provou que há, de fato, uma natureza humana, independente de se originar de uma forma primitiva – uma natureza que possui comportamentos constantes e que, se bem praticados, garante a permanência do Sapiens em um mundo hostil como o nosso.
Contudo, a proposta do evolucionismo social ao insistir, sem nenhum rodeio, que havia “um abismo intelectual, moral e espiritual entre o homem moderno e os denominados povos privados”, levou esse tipo de cientista a “uniformizar em esquemas lineares uma suposta evolução do pensamento humano, abarcando, obviamente, a ideia de um pensamento religioso que teria evoluído de estados mais primitivos, leia-se simples (os animismos), para formas mais complexas (os monoteísmos). Como fizeram aos contratualistas filosóficos dos séculos XVII e XVIII, os evolucionistas dos séculos XIX e início do XX (Spencer, Morgan, Tylor, etc.) também caíram na armadilha de simplificar a história em modelos ideais, mas agora naturalizando-a em processos adaptativos mais ou menos espontâneos; seus sistemas explicativos abstraíram estágios evolutivos bem definidos para a história religiosa da humanidade. Uma vez mais, a filosofia se impôs sobre a história”.
Ocorre que essa filosofia não era a de Platão ou a de Aristóteles, e sim uma outra, muito mais perigosa e que não tinha nada a ver com o eros contemplativo e sim com a libido dominandi de querer alterar a estrutura da realidade – a do cientificismo, o movimento intelectual que começou em meados do século XVI, atingiu a sua sofisticação conceitual no século XVII, alcançou o resto do mundo nos XVIII e XIX e transformou-se na base da opinião pública por todo o século XX. Ele acompanhou a ascensão da matemática e da física modernas, começando na fascinação com uma espécie de "nova ciência", ao ponto de negligenciar a preocupação com as experiências da vida do espírito; desenvolveu-se na afirmação de que esta mesma ciência pode substituir a ordem religiosa da alma; e culminou em uma ditadura muito peculiar que vai contra qualquer forma de questionamento metafísico.
Segundo Eric Voegelin, o cientificismo tem três principais dogmas: (1) A crença de que uma ciência matemática do fenômeno natural é o modelo de todas as outras ciências; (2) Todos os estratos do Ser só podem ser acessíveis por meio dos métodos das ciências dos fenômenos; (3) Toda a realidade que não for acessível a esta ciência do fenômeno é irrelevante ou, em uma visão ainda mais radical, ilusória (e entenda aqui o termo fenômeno como um conceito filosófico que se refere àquilo que podemos ver ou sentir através de nossos próprios sentidos).
Ao adicionarmos a este movimento intelectual uma busca pelo poder, dentro dos grandes governos, das corporações ou supostas organizações não-governamentais, temos esta combustão explosiva chamada cientificismo globalista. De certa forma, ele é o último filhote desta ideologia nociva, criada especialmente para o século XXI, após duzentos anos de positivismo, neo-kantismo, racialismo, determinismo e outros ismos que, de uma forma ou outra, sempre possuem aqueles três dogmas já ditos acima.
O problema é que o cientificismo se ramificou em nossa visão de mundo como uma praga, como nos mostra o francês Pascal Bernardin em seu tratado O Império Ecológico. Não há como escapar dele. De alguma forma, todos somos escravos do fenômeno – e, o pior, sem o sabermos. E isto não acontece só no mundo científico; espalha-se pela mídia, pela política, pela educação e até mesmo nos nossos hábitos alimentares. Tudo cheira a catástrofe para quem apoia o cientificismo, uma catástrofe que finalmente resolverá o problema da Humanidade – de preferência com você, ser humano morto e extinto, e eles, os cientistas que promovem essa ideologia, bem vivos.
A consequência desta linha de pensamento é mais trágica do que parece: aqui, recusa-se, sem nenhuma reclamação, qualquer possibilidade de transcendência, negando qualquer probabilidade de um "plano maior" – aquilo que chamam de “desígnio inteligente” – que está além das nossas capacidades racionais. Isto não é pouca coisa. Afinal, apesar da própria ciência possuir métodos que aceitam a arbitrariedade da natureza, o cientificismo abusa do acaso e da necessidade. Para ele, o ser humano pode tudo porque tem a capacidade de ser o seu próprio criador e o criador das coisas que o rodeiam, uma vez que só o homem teria o direito – e o poder – de controlar esse enigma que se tornou a natureza.
Com essas duas bombas-relógio a sua disposição – o evolucionismo e o cientificismo –, Yuval Noah Harari cometeu, em Sapiens e Homo Deus, o mesmo erro que prejudicou até mesmo as descobertas de Darwin: ele substitui o que deveria ser uma observação científica imparcial e desapaixonada por uma construção intelectual para assim criar uma “teia de significado”, comprovando a teoria com a qual pretende influenciar a nossa sociedade. Dessa forma, ele aparentemente escapa da armadilha criada pelo “paradoxo do conhecimento” – uma vez que Harari repete o tempo todo que seus livros estão apenas no campo da especulação e da previsão histórica. Portanto, o ser humano ainda pode mudar o caminho já trilhado – o que é claramente um contrassenso para quem defende uma cosmovisão baseada no “humanismo evolucionista” e afirma sem pestanejar que o Sapiens não possui alma, é impedido de exercer seu livre-arbítrio e deve esquecer que alguma vez existiu a liberdade que o torna um indivíduo singular.
O trabalho de Harari é dissolvido em barro ao percebermos que, sob a retórica da ciência, sequer se preocupa com a ciência da retórica – e pretende impor uma visão peculiar da natureza e da condição humanas. Por meio de uma hábil estratégia narrativa, ele oculta deliberadamente ao leitor a origem desta visão – fazendo de tudo para não nos mostrar qual foi a sua verdadeira motivação ao convencer-nos de que essa perspectiva assustadora seria a única possível para o resto da humanidade.
4.
Na metade final de Sapiens, Harari passa a discorrer a respeito daquilo que ele chama de “Projeto Gilgamesh”. A referência é a um poema épico escrito no século XIII a.C., naquele território conhecido como a antiga Suméria. O título original pode ser traduzido como Ele que o abismo viu, cuja autoria é atribuída a um vate que se autodenominava “exorcista”, Sin-léqui-unnínni (da qual há uma excelente tradução nacional, feita por Jacyntho Lins Brandão, recentemente publicada pela editora Autêntica).
O resumo da trama que lemos em Sapiens é feito da seguinte forma – e é bem sintomático de como Harari aplica a sua cosmovisão ao analisar o nosso presente: “[O herói do épico] é o homem mais forte e mais capaz em todo o mundo, o rei Gilgamesh de Úruk, que poderia vencer qualquer batalha. Um dia, o melhor amigo de Gilgamesh, Enkidu, morreu. Gilgamesh se sentou ao lado do corpo e o observou por muitos dias, até que viu um verme saindo da narina do amigo. Nesse momento, Gilgamesh foi tomado por um grande horror e decidiu que jamais morreria. De algum modo, ele encontraria uma forma de derrotar a morte. Então Gilgamesh empreendeu uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens-escorpiões e encontrando seu caminho até o submundo. Lá, ele destruiu as misteriosas ‘coisas de pedra’ de Urshnabi, o balseiro do rio dos mortos, e encontrou Utnapishtim, o último sobrevivente da inundação primordial. Mas Gilgamesh fracassou em sua busca. Ele voltou para casa de mãos vazias, mortal como sempre, mas com um novo conhecimento. Gilgamesh aprendeu que, quando criaram o homem, os deuses estipularam que a morte é seu destino inevitável e que o homem precisa aprender a conviver com isso”.
Harari se inspira na jornada de Gilgamesh para afirmar que o progresso tecnológico e científico quer resolver um dos “problemas visivelmente insolúveis da humanidade”: o da “morte propriamente dita”. Ele fará aquilo que nenhuma religião conseguiu fazer – impedir que a morte se torne “um destino inevitável”, mas – como já foi repetido ad nauseam tanto em Sapiens como Homo Deus – sim um mero “problema técnico”, no qual “as pessoas morrem não porque os deuses o decretaram, mas em decorrência de uma série de falhas técnicas: um ataque do coração, um câncer, uma infecção. E cada problema técnico tem uma solução técnica. Se o coração palpita, pode ser estimulado por um marca-passo ou substituído por um coração novo. Se o câncer se espalha, pode ser destruído com medicamentos ou radiação. Se bactérias se proliferam, podem ser controladas com antibióticos. É verdade, hoje não somos capazes de resolver todos os problemas técnicos. Mas estamos trabalhando para isso. Nossas mentes mais brilhantes não estão desperdiçando tempo tentando dar significado à morte. Em vez disso, estão ocupadas investigando os sistemas fisiológico, hormonal e genético responsáveis pelas doenças e pela velhice. Estão desenvolvendo novos medicamentos, tratamentos revolucionários e órgãos artificiais que prolongarão nossa vida e, talvez, um dia vencerão a própria Morte”.
Para Harari, o “Projeto Gilgamesh” do nosso progresso explicita, com todas as letras, a verdadeira intenção da Revolução Científica – “dar à humanidade a vida eterna”. Não há descoberta mais radical de uma ignorância tão profunda como essa. Afinal, como disse Julián Marías, vivemos sob a espada de Dâmocles do famoso aforismo latino, mors certa, hora incerta – e que significa: A morte é certa, mas sua hora é incerta. O mesmo Marías afirma que temos essa visão perturbadora porque a morte é uma realidade latente, que está oculta, não podemos vê-la de imediato, mas está lá, principalmente porque está dada neste pacote que recebemos, chamado de vida. Ela limita a nossa existência em um determinado tempo e também nos faz contemplar a minha vida em sua consideração integral, com começo, meio e fim. A morte nos dá possibilidade de criarmos uma narrativa e extrair um sentido dela.
Neste meio tempo, tudo pode acontecer – inclusive nos depararmos com três tipos incômodos de morte, se continuarmos com o percurso meditativo de Marías. Devemos então distinguir três modalidades daquilo que o poeta Manuel Bandeira chamava de “a indesejada das gentes”. A primeira é a morte do próximo individual; a segunda é a morte dos homens em geral, ou seja, de todo homem; e a terceira e última, mas não menos importante, a nossa morte pessoal.
Quando a morte aparece em sua primeira forma, percebemos enfim que nos encontramos absolutamente sozinhos no momento em que ela ocorre para o outro. Esta solidão é o que apavora a quem se vê diante da morte do outro porque não podemos mais compartilhar da sua companhia. Aqui inverte-se toda uma noção de que são os mortos que ficam solitários. É justamente o contrário: quem fica sem o morto é precisamente o que fica, o que continua vivendo – e a morte é a solidão da companhia que tivemos um dia. Talvez este tenha sido o motivo principal pelo qual Gilgamesh ficou com o “luto em suas vísceras” quando contemplou o cadáver do amigo Enkidu. Ele não queria ficar sem a presença do companheiro de tantas caçadas e batalhas. Não queria se sentir abandonado sem a sua amizade.
A segunda forma – a da morte de todo homem – é algo mais abstrato e digno de várias especulações filosóficas, sendo talvez o único conteúdo de uma crença em que todos – dos religiosos aos ateus, passando pelos evolucionistas como Harari – conseguem concordar entre si. Já a respeito da nossa própria morte, o que fazer com ela? Nesse instante, nem a imaginação da sua morte, nem as meditações filosóficas, nem a beleza dolorida de uma obra-de-arte que representa esse momento único e irrepetível, nem a moral individual ou positiva, nem o Sublime, nem a linguagem elaborada no limite da perfeição – nada disso nos faz compreender o que acontece conosco quando a morte chega para cada um de nós. Esta é a solidão absoluta – e eis a raiz do seu mistério e enigma.
Neste ponto, qualquer conceituação sobre uma “teia de significado” se despedaça sob qualquer aspecto. Há os que acreditam que, logo após a morte, sua alma será imortal e você sobreviverá de alguma outra forma; e há os que acreditam que o fim é o fim mesmo – e o resto é silêncio. Quem está certo? Quem está errado? Em outra palestra, Marías dizia que era uma arrogância falar sobre a morte porque, afinal, ninguém sabia o que acontecia quando ela surgia. Se a alma é imortal, então esta vida tem um sentido, a Criação é um ato de amor e Deus tem um propósito misericordioso para cada um de nós; se não há imortalidade, logo nada aqui vale a pena, o mundo é uma masmorra e Deus resolveu brincar conosco como se fôssemos dados de um jogo de azar.
Ora, este último tema é a verdadeira perspectiva apresentada pelo épico Gilgamesh. Harari comete um equívoco ao afirmar que o personagem principal tem a lição de que deve “conviver com esse problema”. O fato é que ele não aprende nada disso. O ensinamento recebido por Gilgamesh na sua descida ao submundo – especialmente ao se encontrar com Utnapishtim, o sobrevivente do dilúvio (talvez o mesmo dilúvio do qual Noé foi obrigado a fazer sua arca para proteger o que restava deste planeta) – é que a imortalidade é o “grande segredo dos deuses” e é também a única coisa que separa estes seres sobrenaturais de nós, humanos. O homem não pode vencer a morte porque este é o seu único destino – e nada mais lhe resta. É o que Utanpishtim avisa a Gilgamesh com os seguintes versos: “O que te darei para voltares a tua terra”. A planta que entrega ao herói, com a intenção de conquistar a “vitalidade”, é mais um prêmio de consolação do que propriamente a vitória da sua jornada. Ao voltar a Úruk, a grande descoberta de Gilgamesh não é a respeito da aceitação da morte e sim de que todos nós estamos envoltos em um grande silêncio no qual “a totalidade dos homens tornara-se barro”.
Qual seria o motivo do equívoco e da inversão de significado feita por Harari a respeito da conclusão desta parábola, uma vez que o poema citado provaria justamente a consequência mais radical da sua visão de mundo – ou seja, a de que o ser humano nunca teve uma alma e que, logo, somos incapazes de sermos imortais? Talvez uma pista pode ser encontrada em outro livro dele, escrito antes de Sapiens e Homo Deus, na época em que Harari era professor de história e estratégia militar na Universidade Hebraica de Jerusalém e, por uma ironia, superior aos best-sellers que lhe deram fama e notoriedade – intitulado The Ultimate Experience – Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450-2000 (publicado em 2008, ainda inédito em português e que pode ser traduzido como “A Experiência Derradeira – Revelações no campo de batalha e a criação da cultura moderna da guerra entre os anos 1450 e 2000”).
A tese deste longo tratado é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora – tão perturbadora que o próprio Harari explica, na introdução autobiográfica, que a própria pesquisa em torno do livro mudou a sua concepção de mundo. Trata-se do seguinte raciocínio: nos últimos duzentos anos, a experiência da guerra se tornou a verdadeira experiência religiosa, a revelação última sobre a estrutura da realidade. Na Antiguidade e na Idade Média, a guerra era vista como um palco de sofrimento, mas eram sofrimentos passageiros, pois as pessoas acreditavam que, entre o corpo e o espírito, este último levava vantagem por causa do seu caráter transcendente. Assim, os relatos de conversão espiritual que faziam comparações com os combates deixavam a guerra em segundo plano, sabendo que ela era um fenômeno transitório e que, no final, o espírito era o que dava o veredito.
Contudo, com a modernidade, temos uma reviravolta na percepção do que é a guerra, que acontece justamente com ninguém menos que René Descartes. De acordo com Harari, a divisão entre corpo e espírito – pilar de toda a filosofia racionalista que Descartes aperfeiçoou – foi influenciada não por causa das especulações metafísicas do filósofo francês, mas sim por algo mais concreto – no caso, a experiência do autor de Discurso do Método, entre 1618 e 1620, como soldado no exército do holandês Maurício De Nassau, o Príncipe de Orange (não confundir com o conde homônimo que passou uma temporada no Brasil, em Recife, nos anos 1638-1644).
Ao ficar impressionando com o modo como Nassau treinava o seu exército – responsável por vitórias fundamentais no território europeu a favor da Holanda –, igual a uma máquina perfeitamente calibrada, com todas as peças em ordem, sendo que, neste caso, eram os soldados que cumpriam a função de serem as engrenagens, Descartes chegou à conclusão de que a natureza humana poderia ser analisada da mesma forma. Assim, viu o corpo como se fosse um mecanismo no qual a alma ficaria guardada em um órgão específico, sem nenhuma capacidade de animá-lo, ou de dar a mínima chance de uma liberdade, mesmo que provisória. A razão (ratio) era o que restava ao homem para ter essa possibilidade de ser livre e, entretanto, ela também tinha as suas limitações, já que o mundo poderia ser um grande engano criado por aquilo que ele chamava de “Gênio Mau”. Essa transformação na nossa natureza acentuou a crueldade da guerra aos nossos sentidos; o espírito parou de ter a sua importância permanente – e os sofrimentos do corpo se tornaram fundamentais para que a experiência da guerra fosse a revelação definitiva do que significa viver na Terra.
O argumento de The Ultimate Experience é intrigante porque Harari consegue articular, de maneira clara, algo que é impossível negar na nossa sensibilidade contemporânea: com a predominância do corpo em detrimento do espírito e, em simultâneo, com o desencantamento do mundo via a secularização religiosa, a guerra se tornou a única experiência transcendental que fundamenta a nossa sociedade. A prova disso está no cinema, com filmes como Apocalypse Now, Nascido para Matar, Platoon, Além da Linha Vermelha, O Resgate do Soldado Ryan. Todas essas películas mostram que o campo de batalha é o palco daquilo que, no meu livro A Poeira da Glória, chamei de “o pesadelo do paradoxo” e que consiste na descoberta de que “a conversão à realidade só pode ser articulada por meio de antinomias que se acumulam numa sucessão de tensões, um mergulho na verdadeira natureza das coisas que, sob o aspecto meramente humano, dá a impressão duradoura de que a própria condição humana como um todo só será compreendida como uma fantasmagoria, cujo mero despertar se dará no meio de um deserto particular onde nem mesmo o vislumbre das estrelas no céu límpido deste planeta permitirá algum alivio”.
Se relacionarmos a conclusão principal de The Ultimate Experience com a inversão interpretativa do épico Gilgamesh, ambas escritas pelo mesmo Harari, é difícil não percebermos que o autor dos best-sellers Sapiens e Homo Deus também foi infectado por esse “parasita mental” que é o pesadelo do paradoxo. A guerra não foi apenas uma experiência religiosa para toda a modernidade – ela ocorreu principalmente no íntimo de Harari ou, se quisermos usar um vocabulário bem ultrapassado, no seu “espírito”. Possuído por esta revelação – de novo, não podemos hesitar no uso do termo religioso sob pena de sermos imprecisos –, ele acredita que a morte é o único problema a ser resolvido pela humanidade porque “a batalha pela vida”, a “sobrevivência dos mais aptos”, a “seleção natural”, a “evolução” farão o possível para mostrar ao homem que ser imortal jamais é a meta suprema da humanidade. Pelo contrário: Harari quer destruir a única esperança que temos de provar a quem vier depois de nós que a extinção humana não será o resultado definitivo da nossa espécie. Ao negar a imortalidade – mas, ao mesmo tempo, esquecendo-se que só pode comprovar o seu raciocínio por meio da vitória técnica da morte –, Harari não quer perceber que a verdadeira ciência só pode surgir se o ser humano tiver uma alma. Enredado nesta armadilha que montou para si mesmo – e aqui está o seu verdadeiro “paradoxo do conhecimento” –, fica nítido que a verdadeira intenção de Yuval Noah Harari não é alterar a sociedade graças à sua previsão histórica, e sim a de alterar a única coisa que ninguém pode controlar: a natureza humana.
Trata-se de um nítido projeto totalitário, encoberto pela revelação pseudo-religiosa de que a guerra é a mãe de todas as descobertas filosóficas e científicas, e disfarçado por uma impecável retórica cientificista, como qualquer coisa produzida por um talentoso intelectual de gabinete. Temos aqui a obsessão pela paz duradoura já antecipada pelo humanismo clássico de Erasmo de Rotterdam e que, enfim, trará a harmonia terrena, mesmo que seja às custas do espírito humano porque esquece-se de que o homem é alguém essencialmente frágil, precário e com uma tendência inata a praticar diversas formas de maldade. Apesar de dar a impressão de ser um cínico com pitadas de ceticismo cosmopolita, o que Harari é, na verdade, um ingênuo, ao eliminar em sua teoria aquela aguda sensibilidade ao problema do Mal que se exige de um homem disposto a enfrentar com seriedade os dilemas da vida. Porém, não se trata somente de mais um caso de ingenuidade histórica; trata-se, sem dúvida, de um caso exemplar de idealismo utópico, camuflado de distopia tecnológica darwinista, na qual, se for levada a sério pelos sujeitos que tomam as decisões nas políticas públicas da nossa sociedade – como parece ser o caso dos Mark Zuckerbergs que pululam por aí em cada start-up “inovadora” –, mostrará as garras de uma verdadeira loucura.
Harari é mais uma vítima da pleonexia, o desejo de poder, misturado ao desejo de conhecimento, que faz o intelectual cair na ilusão de que, por meio de suas ideias, pode transformar a Terra em uma “casa bem-arrumada” – ou, no caso de quem acredita na narrativa de Sapiens e Homo Deus, em um futuro mais do que imperfeito. A vontade de que a sua obra não seja capturada pelo “paradoxo do conhecimento” o leva forçar a crer que a extinção humana é o único resultado possível para que sua teoria enfim tenha sentido – e assim a pleonexia perverte o senso do real de tal forma que o nosso fim se torna um mero instrumento para uma sociedade que será eliminada sem misericórdia, desde que suas ideias sejam postas em prática. Na mente deste monarca que comanda a “tirania dos especialistas” globais, o importante é criar uma idade de ouro, comprovando que viveremos em um tempo glorioso, mesmo que ninguém mais esteja vivo, apenas os idealizadores deste desígnio catastrófico.
No fundo, parece que Yuval Noah Harari é uma espécie de Dr. Fantástico, o famoso personagem interpretado por Peter Sellers na comédia de humor negro homônima dirigida por Stanley Kubrick, lançada no auge da Guerra Fria em 1964. Ele afirma que os Sapiens serão destruídos, mas, quando isso acontecer, é provável que estará em um bunker subterrâneo, aproveitando o melhor do que a tecnologia humana lhe oferecerá. Ou, se quisermos ser mais profundos, Harari não se vê como um Gilgamesh e sim como Utnapishtim, o Noé dos acádios. Sua maior preocupação não é com a morte como um problema técnico; e seu único desejo é manter a sua própria imortalidade, custe o que custar. O resto? Bem, o resto que se dane. Afinal, na alucinação de ser o seu próprio Homo deus, Harari se esquece que é feito do mesmo barro que, se não fosse pelo sopro da vida, seria, como diria Bruno Tolentino em “Lição de Modelagem” (um dos mais belos poemas da língua portuguesa), indiferente à “graça,/ na pompa e na soberba/ dos sonhos do intelecto/ que se presume autônomo/ e, agindo como tal, acaba por supor/ em si mesmo o fiscal/ do seu próprio labor,/ da sua inania verba,/ do seu louco metrônomo,/ da sua fruta acerba,/ ou seca como o erro/ do orgulho no desterro/ de uma biblioteca”. E o leitor que quiser acompanhá-lo ou levá-lo a sério neste pesadelo do paradoxo mal saberá que a alma – este detalhe irrelevante nos nossos dias –, “por pior que se esforce,/ só peca quando se petrifica”.
Martim Vasques da Cunha é autor dos livros Crise e Utopia – O Dilema de Thomas More (Vide Editorial, 2012) e A Poeira da Glória – Uma (inesperada) história da literatura brasileira (Record, 2015); pós-doutorando pela FGV-EAESP.



