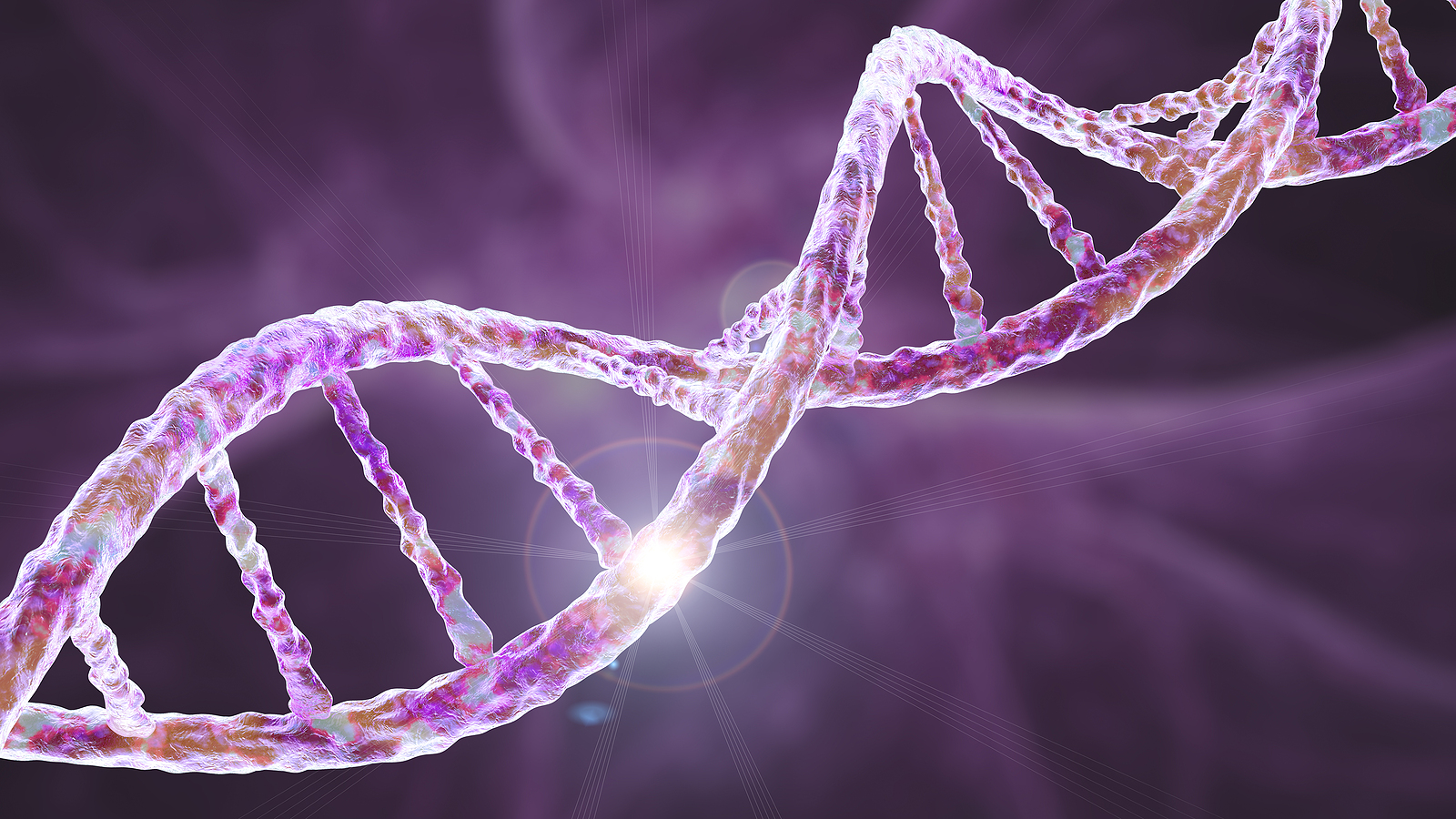
Ouça este conteúdo
A prestigiosa revista Nature Medicine acaba de publicar em seu número de março um artigo no qual pesquisadores da Califórnia e de Nova Iorque analisam o genoma de mais de cem embriões e tentam predizer que risco teriam de padecer de doenças comuns ao longo da vida. Sua proposta é aplicar essa tecnologia ao diagnóstico genético pré-implante para assim selecionar os embriões que mostrem menor probabilidade de ter essas doenças. Mas a questão é complexa e não está isenta de problemas sérios, como argumentam outros pesquisadores em um comentário que aparece no mesmo número da revista.
O diagnóstico genético pré-implante (DGP) vem sendo oferecido há anos como parte das técnicas de fertilização in vitro, com o objetivo de implantar unicamente os embriões livres de mutações que causam algumas enfermidades genéticas graves. Consiste em extrair uma célula do embrião em suas fases mais iniciais, quando está formado por não mais que oito células, e estudar a presença de mutações em seu material genético, presumindo-se que todas as outras células do embrião terão a mesma constituição genética.
Dada a baixa frequência dessas doenças, são poucos os casais que recorrem ao DGP. Por outro lado, seu uso para detectar defeitos cromossômicos no embrião jovem é objeto de um intenso debate na comunidade científica, por distintas questões que têm a ver com as primeiras divisões celulares no embrião. Mas essa situação poderia mudar, caso se demonstrasse a utilidade do DGP para predizer o risco de ter doenças muito mais comuns, como câncer, mal de Alzheimer e diabetes. Nessa linha vai precisamente o trabalho que nos ocupa.
Fatores genéticos
Boa parte da pesquisa genética dos últimos vinte anos tentou decifrar os fatores genéticos que se associam a diversas doenças comuns, ou inclusive a traços físicos e psicológicos. Para isto se estudam as letras do genoma que mudam de um humano para outro. Dos três bilhões de nucleotídeos do nosso genoma, a maioria é – obviamente – igual em todas as pessoas, mas há vários milhões de posições nas quais distintas pessoas levam uma letra diferente. Comparando essas variantes genéticas em pessoas sadias e em doentes de, por exemplo, diabetes tipo 1, é possível identificar todas as variantes que se associam a um risco alto de ter a doença. O efeito de cada uma é muito pequeno, mas como em cada doença há muitas (dezenas ou até centenas), pode-se combinar a informação de todas elas para calcular os chamados “riscos poligênicos”.
Os autores dessa pesquisa estudaram cento e dez embriões, procedentes de dez casais que haviam recorrido à fertilização in vitro, no momento em que tinham só cinco células. Na sequência, leram uns seis milhões de variantes no genoma da célula extraída de cada embrião e o compararam ao genoma completo de cada um dos progenitores, o que lhes permitiu reconstruir o genoma do embrião. Como dez desses embriões haviam sido implantados, puderam comparar as predições com seus genomas respectivos, uma vez que já haviam nascido, e viram que eram muito boas.
Tendo validado assim a metodologia, analisaram os dados do Biobanco do Reino Unido (uma coleção de quase um milhão de pessoas das quais se tem informação genética e médica muito detalhada). Calcularam os riscos poligênicos de cada doador do Biobanco para um total de doze doenças comuns que incluíam vários tipos de câncer, cardiopatias ou diabetes; como era de esperar, comprovaram que nas pessoas com riscos mais altos havia maior incidência dessas doenças.
Probabilidade não é certeza
O problema aqui é a magnitude desses efeitos. Por exemplo, as pessoas com um risco poligênico muito alto de doença coronária tiveram umas três ou quatro vezes mais probabilidade de padecer dela do que aqueles com riscos genéticos mais baixos; unicamente no caso da diabete tipo 1 se alcançou uma probabilidade dez vezes superior. Isto ilustra muito bem algo fundamental: esses riscos se aplicam a grupos populacionais, mas nunca predizem o que vai acontecer com pessoas concretas. É cientificamente correto usar essa informação para decidir o destino de um embrião in vitro? Parece que não: uma probabilidade não é uma certeza, especialmente se falamos de probabilidades baixas ou moderadas.
Há outras limitações, como reconhecem os autores do trabalho. Por exemplo, o poder preditivo desses riscos baixa muito quando se aplicam a populações de ancestralidade diferente da da população analisada originalmente; dado que a maioria dos estudos foi feita em indivíduos brancos de países desenvolvidos, essas variantes genéticas não servem para calcular riscos em pessoas de ascendência africana ou da América do Sul. Aos autores preocupa também que o acesso a essas tecnologias fique restrito a classes endinheiradas, mas o que realmente importa é que o público entenda de maneira correta que esses cálculos não proporcionam uma bola de cristal, senão uma probabilidade que só funciona com grandes números mas não serve para casos concretos.
Mentalidade eugenista
O preocupante é que esse tipo de risco também se pode calcular para traços comportamentais, como a inteligência matemática ou a capacidade leitora. Em todas essas situações influenciam fatores genéticos. Mas quanto? Há umas semanas, por exemplo, se publicou um enorme estudo que analisa as variantes genéticas associadas ao nível educativo alcançado em três milhões de participantes, calculando um risco poligênico que explica 15% da variação em níveis educativos. O resto dessa variação se deve a fatores ambientais, familiares, sociais ou educativos, mas sua importância tende a ser esquecida pela ênfase nos riscos poligênicos. Isso sem falar nas doenças psiquiátricas ou nos traços de personalidade. Serão eliminados os embriões com risco alto de transtorno bipolar ou hiperatividade? Em uma mentalidade cada vez mais eugenista, é evidente que a própria percepção de deficiência será muito afetada negativamente.
Não devemos minimizar a importância dos estudos de associação genética e o cálculo dos riscos poligênicos: estão sendo cruciais para conhecer as causas moleculares de muitas doenças comuns, e identificam um grupo populacional de alto risco em que as campanhas de detecção precoce serão especialmente eficazes. Mas, mal aplicados, podem ser muito danosos; alguns já estão pedindo a implantação de uma “educação personalizada” baseada na constituição genética das crianças. E, claro, empresas já oferecem a usuários de fertilização in vitro a seleção de embriões em função das variantes genéticas que predizem “pouca inteligência” ou estatura baixa. Por isso é urgente informar adequadamente a sociedade para que todos entendam que uma probabilidade mais ou menos alta de ter uma doença em função da constituição genética nunca é a última palavra e não deveria ser o critério para tomar decisões importantes sobre embriões, nem sobre crianças ou adultos de carne e osso.
Javier Novo é catedrático de genética.
VEJA TAMBÉM:



