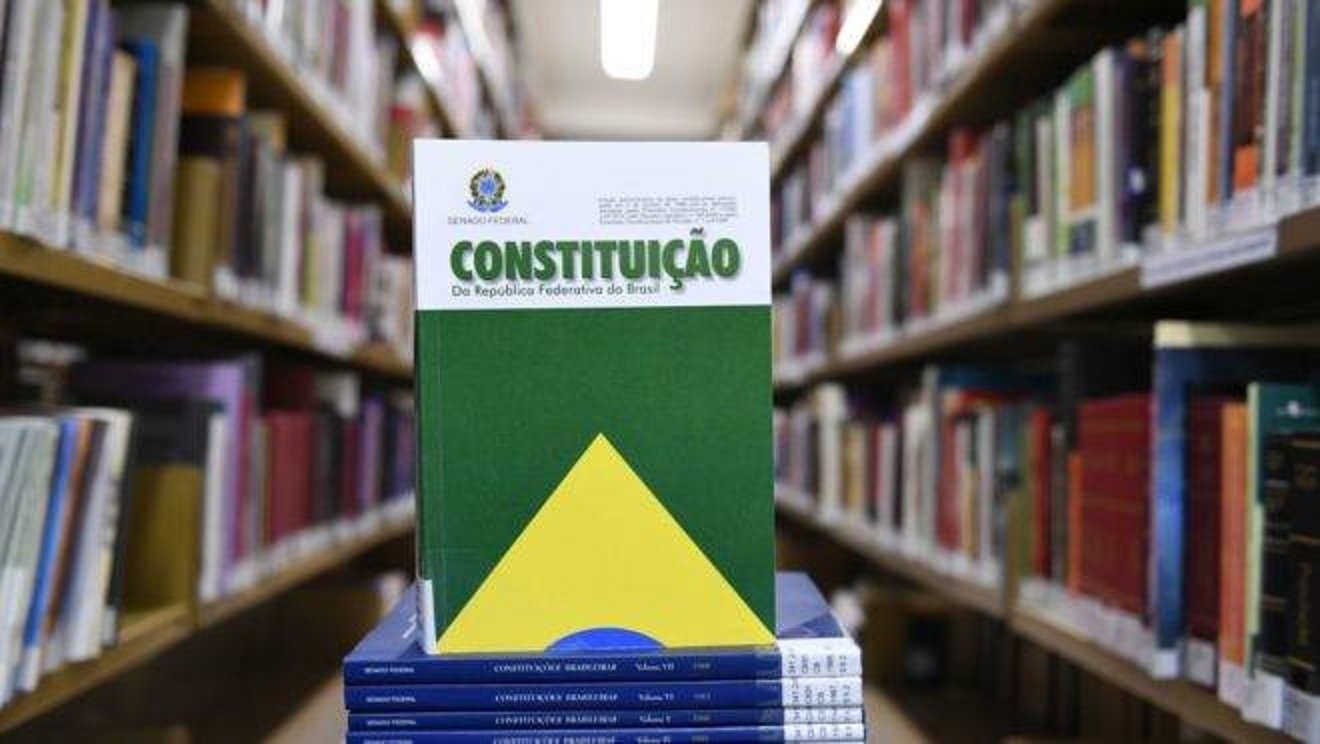
Ouça este conteúdo
No período final da República de Roma, a partir do início do século 1.º a.C., até o ano 27 a.C., quando Otaviano consolida seu poder e se torna o primeiro imperador, sob o nome de Augusto, o ordenamento político e institucional que vigorou nos séculos anteriores foi aos poucos sendo erodido. As eleições para o Consulado, magistratura máxima da República e objeto de ambição da elite romana, deixaram, aos poucos, de serem disputadas na forma consetudinariamente prevista para se tornarem irregulares e viciadas, a ponto de as listas de cônsules a serem “eleitos”, a certa altura, terem sido encontradas nas anotações de Pompeu e Marco Crasso, dois dos maiores estadistas romanos. O rent-seeking pelo comando das principais expedições de combate e conquista, que rendiam pilhagem e prestígio a seus líderes, tornou-se tamanho que a intimidação dos eleitores pela violência de gangues de políticos rivais e a compra de votos tornaram-se rotina nos períodos pré-eleitorais.
Detentores de cargos públicos não podiam ser processados durante o exercício da função, o que gerava incentivos para frequentes negociações e troca de favores entre atores políticos, mesmo diante de eventos violentos. Após o assassinato de Júlio César, o Senado costurou uma anistia a seus algozes, mas, num acordo político amplo, manteve a validade das decisões recentes do ditador.
Em Roma não havia separação de poderes. Em especial, não havia um Poder Judiciário constituído de forma independente. Os processos cíveis e criminais eram todos privados, entre cidadãos, e não envolviam o Estado romano como parte. Os juízes que presidiam os tribunais eram em geral senadores ou magistrados eleitos (pretores, ou mesmo cônsules) – políticos, portanto – que frequentemente constituíam parte interessada no resultado dos julgamentos.
Com o crescimento do território sob domínio da República e dos incentivos financeiros em jogo, este setup institucional revelou-se incapaz de conter a ambição dos políticos, tornando as sucessões de poder cada vez mais difíceis e violentas, a tal ponto que o sistema ruiu e deu lugar ao império, que duraria outros quase 500 anos.
Não é de hoje que os acordos “pouco republicanos” e violações da Constituição, por parte de todos os três poderes, se assemelham, no Brasil contemporâneo, aos observados no ocaso da República de Roma. Em especial, e em que pese o fato de há muito tempo o Supremo Tribunal Federal ter deixado de funcionar como corte constitucional, e mesmo de cumprir o papel de fiador da Constituição, até recentemente o órgão vinha se abstendo de influenciar, pelo menos de forma direta, o processo eleitoral e político do país.
Ao reabilitar para o exercício de funções públicas, por meio de uma decisão monocrática de um ministro, uma figura condenada por diversos crimes em três instâncias distintas, sob alegada incompetência da corte de primeira instância para julgamento desses processos – e contrariando o pronunciamento da mesma corte suprema sobre esse assunto em sentido contrário, em diversas ocasiões, ao longo dos últimos anos –, o STF deu um passo além no que se refere à sua atuação como força política.
Este processo não é obra do acaso, mas resultado do texto da Carta de 1988. O fato de se constituir na instância única de julgamento da elite política do país – instituto que, como já destacamos em artigo anterior, não encontra paralelo em praticamente nenhum país moderno – torna a limitação do poder do STF por parte do Senado, como previsto constitucionalmente, uma ficção. Ainda, pelos mesmos motivos, não há qualquer incentivo por parte do presidente da República em indicar para sua composição juízes ou desembargadores especialistas em Direito Constitucional, mas, sim, em optar por amigos pessoais ou simpatizantes de suas bandeiras políticas. O mandato quase vitalício de seus ministros exacerba o viés na composição da corte, que se torna ainda mais grave quando um mesmo grupo político permanece no Poder Executivo por muito tempo. Com efeito, 7 dos atuais 11 ministros da corte assumiram suas cadeiras durante os anos de governo do PT.
O grupo que ocupa o Poder Executivo hoje é fraco politicamente. Além disso, o presidente tem mostrado pouca capacidade de liderança e tomado decisões equivocadas, em especial diante das circunstâncias difíceis determinadas pela pandemia. Os poucos avanços que o país tem registrado e o mínimo de organização da economia se mantêm graças aos esforços da equipe econômica, de alguns outros poucos ministros e de alguns parlamentares. No entanto, a severidade da pandemia e o comportamento errático do presidente tornam relevantes as chances de o país ingressar em um período de desorganização ainda no atual quadriênio.
Atuando como um ator político competente e oportunista, neste momento de vácuo de poder e fragilidade, a suprema corte devolve à cena o líder de um partido com um projeto de poder que se revelou verdadeiramente totalitário e perigoso; que se apropriou progressivamente da máquina pública ao longo dos 16 anos em que esteve no poder; cooptou parte importante do setor privado e operacionalizou um sistema de corrupção amplamente documentado nos anais dos julgamentos conduzidos por diversos tribunais, e que encontram poucos paralelos na história de qualquer país que seja.
Dada a popularidade do atual e do ex-presidente, e o sistema de votação em dois turnos, há uma chance razoável de que as demais candidaturas sejam inibidas, e os eleitores se vejam diante de uma escolha entre a continuidade de um presidente cujo desempenho vem se mostrando aquém do esperado e o retorno de uma figura que, após muito trabalho e esforço das instituições, havia sido banida da vida pública, em função dos crimes pelos quais foi julgado e condenado.
Se confirmada pelo plenário do STF, a reabilitação dos direitos políticos do ex-presidente nos indicará que, como na Roma antiga, a ambição dos políticos no Brasil de hoje já não encontra mecanismos institucionais capazes de freá-la. Para efeitos políticos, a separação dos poderes terá deixado de existir de fato. Na definição de Francis Fukuyama, no seu clássico The origins of political order, o “rule of law” – ou “Estado de Direito” – desaparece quando a lei deixa de constituir restrição ao poder político, em especial o dos mais poderosos.
Ao contrário do sucedido em Roma, no entanto, este caminho não terminará, obviamente, na ascensão de um império, que, se por um lado, impôs às populações tributárias e mesmo aos cidadãos um aumento das restrições às liberdades individuais, por outro trouxe, no contexto da Pax Romana, aumento do comércio e prosperidade econômica significativa a boa parte do mundo ocidental conhecido, à época.
VEJA TAMBÉM:
No caso brasileiro, as consequências antevistas são de crescente insegurança jurídica, polarização política, crescimento das opções populistas no espectro eleitoral e, possivelmente, transições de poder cada vez mais tensas, fatores que não concorrem para que mantenhamos o otimismo com o futuro, muito pelo contrário.
Ulysses Guimarães, no estilo sofismático da época, e na ânsia de louvar o caráter “democrático” da carta recém-promulgada, saudava a Constituição de 1988 como sendo “luz, ainda que lamparina, na noite dos desgraçados”. Tendo elaborado uma carta com texto mais extenso do que quase todas as demais constituições do mundo (apenas as constituições da Índia e da Nigéria são mais longas do que a do Brasil), Ulysses e seus colegas teriam feito melhor se tivessem se baseado em Constituições compactas e bem-sucedidas, como a dos Estados Unidos. Os artífices da carta, como era previsível, além de terem falhado em garantir, apenas com palavras, dezenas de direitos individuais que nossa sociedade se revelou incapaz de honrar, perpetuaram mecanismos obsoletos de discriminação de foro e desenho institucional desfavorável à manutenção do equilíbrio dos poderes, que estão, a olhos vistos, se revelando verdadeiras bigornas, que seguem contribuindo para prender o país ao atraso e à pobreza.
Pedro Jobim é Ph.D em Economia pela Universidade de Chicago.





