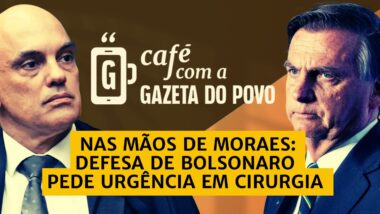Ouça este conteúdo
Uma discussão importante sobre os rumos da liberdade de expressão corre o risco de ser enterrada pelo fim da Medida Provisória 1.068, que em um intervalo de poucas horas foi suspensa pela ministra Rosa Weber, do STF, e devolvida ao Executivo pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A MP tinha sido editada na semana passada por Jair Bolsonaro e alterava o Marco Civil da Internet para estabelecer regras a respeito da exclusão de conteúdos em mídias sociais.
Nenhuma das decisões, tanto a de Pacheco quanto a da ministra, estava tecnicamente equivocada. De fato, havia o prazo curto para as mídias sociais se adequarem às novas normas, além da interpretação de que MPs não poderiam legislar sobre direitos fundamentais como a liberdade de expressão, fatores invocados por Rosa Weber para a suspensão da MP. Quanto a Pacheco, por mais que, ao contrário do que afirmou o presidente do Senado, não houvesse inconstitucionalidade alguma na MP, o tema realmente não era apropriado para o uso desse instrumento, já que existe projeto de lei tratando do mesmo tema: o PL 2.630/2020, aprovado no Senado e remetido à Câmara, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e nos parece o melhor texto para tratar de critérios de moderação em mídias sociais, já que o Marco Civil da Internet se destina ao funcionamento geral da rede.
Mas, ainda que tecnicamente não haja objeções às atitudes do presidente do Senado e da ministra do Supremo, é inegável que elas não foram única e exclusivamente decisões técnicas. Elas foram, sim, influenciadas pelo clima de rejeição ao texto construído ao longo dos últimos dias, alimentado por uma polarização política que levou a uma série de generalizações e imprecisões que só serviram para prejudicar o debate, pelo simples fato de o tema ter sido levantado por iniciativa do governo federal. E, graças a esse preconceito, seguirão sem resposta várias questões fundamentais para entender o momento atual da liberdade de expressão nas mídias sociais.
Uma série de generalizações e imprecisões sobre a MP 1.068 serviu para prejudicar o debate, pelo simples fato de o tema ter sido levantado por iniciativa do governo federal
Uma mídia social pode apagar mensagens ou contas usando os próprios critérios do que considera aceitável? Se sim, com que clareza isso deve ser informado a quem foi “censurado”? Que direitos podem ser assegurados aos usuários e que responsabilidades assume a empresa? São perguntas que não podem ser respondidas sem, antes, entender o que são as mídias sociais, como elas se apresentam e como elas agem na prática. A relevância do tema é evidente e as respostas não são triviais.
O debate passa por uma distinção que, embora muito presente em outros países, vem sendo esquecida no Brasil. A questão-chave é se as redes sociais vão atuar exclusivamente como plataformas digitais ou também como publishers, isto é, como veículos de comunicação que devem se responsabilizar, quer queiram quer não, pelos conteúdos distribuídos. São situações bastante diferentes.
Uma mídia social que seja de fato apenas plataforma age simplesmente como um espaço, um ambiente de serviços onde usuários (milhões deles) interagem, publicam, difundem, impulsionam informações, opiniões, expressões dos mais diferentes gêneros. A rede fornece a ferramenta tecnológica e um sem-número de funcionalidades, mas substancialmente é neutra quanto aos conteúdos. A intervenção, neste caso, é mínima, limitando-se a casos que configurem crime e ao cumprimento de eventuais decisões judiciais; ninguém há de discordar que as mídias sociais podem e devem apagar, por exemplo, publicações de incitação ao crime, textos racistas ou pornografia infantil, e até mesmo cancelar as contas responsáveis por tais conteúdos – e não precisam pedir autorização a ninguém para isso. Em troca dessa “neutralidade”, a empresa dona da mídia social, de forma bastante razoável, não tem por que ser punida pelas consequências de eventuais publicações de seus usuários, salvo em casos específicos, como, por exemplo, a recusa de cumprir uma decisão judicial de retirada de conteúdo.
VEJA TAMBÉM:
Acontece, no entanto, que a mídia social pode, na prática, pretender algo mais. Se ela define critérios próprios – para além daqueles estabelecidos na legislação de um determinado país – do que pode ou não ser publicado nas suas páginas ou perfis, e fiscaliza o respeito a eles, ela não está na verdade atuando como mera plataforma, mas como um veículo de comunicação. Ela já não é neutra quanto aos conteúdos. Salvo situações específicas em que se configure indiscutivelmente um quase monopólio, parece-nos que as empresas devem ter a liberdade de atuar dessa forma (e é o que elas de fato fazem, ainda que muitas vezes o neguem), mas – e esse é um ponto fundamental – devem arcar com as consequências disso. Se exercem um controle “editorial” (poderíamos chamar também de ideológico) sobre tudo o que é publicado, assumem responsabilidade por esse mesmo conteúdo e podem ser acionadas em razão dele. O grande poder – de definir o que manter e o que apagar – traz consigo a respectiva grande responsabilidade.
Em suma, mídias sociais são empresas privadas, e por isso, em tese, deveriam ser livres para escolher como pretendem atuar. Mas, uma vez feita essa escolha, devem arcar com seus ônus e seus bônus. Se querem ser plataformas e se apresentar como tais, não podem ter critérios de moderação adicionais aos previstos em lei, mas ao mesmo tempo ficam livres de responsabilização judicial, a não ser em casos bem específicos; se querem ser publishers, podem sê-lo, com a liberdade de usar critérios próprios para apagar publicações, mas também se tornam judicialmente corresponsáveis pelo que permanecer no ar.
Mas o que tem ocorrido na prática, ao menos na realidade brasileira? Todas as grandes empresas de mídia social se apresentam como plataformas, e são vistas dessa forma por boa parte dos usuários. No entanto, como já tem sido amplamente noticiado e como bem pode atestar qualquer um que já tenha tido publicações apagadas mesmo que elas estivessem muito longe de configurar qualquer ilícito ou crime, essas mesmas empresas se comportam no dia a dia como publishers. Eis aqui o grande problema: as Big Techs querem o direito de apagar o que bem entenderem, mas sem apresentar-se perante seus usuários como editores, em uma flagrante falta de transparência, e sem assumir as consequências jurídicas de agir desta forma.
Temas como transparência de critérios de moderação, direito do usuário a ser informado do motivo de eventuais suspensões, oportunidade de defender-se, e a minimização do prejuízo social decorrente da suspensão precisam ser enfrentados. E esse era precisamente o objetivo da MP 1.068
Esta duplicidade – muito conveniente para as empresas, mas nada saudável para os usuários, que recebem a promessa de neutralidade, mas se veem “censurados” sem nem mesmo saber o que fizeram de errado – está carente de um regramento legal. Temas como transparência de critérios, direito do usuário a ser informado do motivo de eventuais suspensões, oportunidade de defender-se, e a minimização do prejuízo social decorrente da suspensão precisam ser enfrentados. E esse era precisamente o objetivo da MP 1.068. Sua finalidade era garantir que as mídias sociais que se autodeclarassem como plataformas efetivamente se portassem como tais, vedando qualquer moderação de conteúdo que escapasse das hipóteses previstas em lei, garantindo a neutralidade da plataforma e impedindo a “censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa”.
Falaciosa e injusta, portanto, a alcunha de “MP das fake news” dada pelos detratores da medida, já que não se trata de facilitar a difusão de mentiras na internet – aliás, uma das ferramentas mais usadas para essa disseminação, o uso de perfis automatizados, era listada na MP como razão válida para exclusão de publicações e contas –, mas de promover a liberdade de expressão dentro do ambiente daquelas mídias sociais que se declaram como plataformas de difusão e compartilhamento de conteúdo.
Falaciosa e injusta a alcunha de “MP das fake news” dada pelos detratores da medida, já que não se trata de facilitar a difusão de mentiras na internet, mas de promover a liberdade de expressão dentro do ambiente das mídias sociais
Isso não significa, no entanto, que a MP não exigisse aprimoramento ou não contivesse imprecisões. Um de seus problemas – e que, é preciso dizer, também aflige o PL 2.630/2020 – passa por um conceito prévio que parecia estar embutido no texto, segundo o qual toda mídia social necessariamente deveria se portar como plataforma; isso retiraria das empresas a liberdade de se assumirem como editores, caso estivessem dispostas a assumir as responsabilidades jurídicas decorrentes desta postura para terem o direito de realizar moderação baseada em critérios próprios – pensemos, por exemplo, no hipotético caso de uma mídia social com perfil ideológico bastante definido, ou voltada a membros de determinada religião, e que gostaria de poder moderar publicações que, respectivamente, promovessem posturas políticas discordantes ou atacassem aquela fé específica.
O melhor caminho, a nosso ver, é um enriquecimento mútuo entre a MP 1.068 e o PL 2.630/2020. Se o projeto de lei, por um lado, é bem mais abrangente no estabelecimento de regras para as mídias sociais, por outro ele fica muito aquém do necessário na garantia da liberdade de expressão de usuários de mídias sociais e no estabelecimento de critérios objetivos e transparentes de moderação. Mas, para que ocorra esse enriquecimento, é preciso que haja uma discussão honesta e, principalmente, desapaixonada sobre os pontos positivos de ambos os textos, sem rejeições a priori motivadas pela mera aversão aos que os propuseram. A quase onipresença das mídias sociais na vida dos brasileiros e sua importância como ferramenta de difusão de informações, ideias e opiniões justifica um tratamento equilibrado do tema para que a liberdade de expressão na internet seja plenamente garantida.