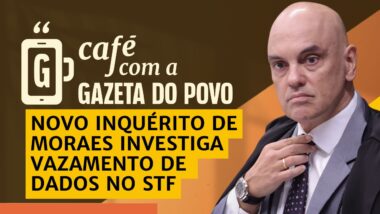Por Jefferson Viana, publicado pelo Instituto Liberal
O mato-grossense radicado no Rio de Janeiro, Roberto Campos, fez história. Seja como parlamentar, como diplomata, como ministro ou como professor, Campos marcou época por defender de forma tenaz o liberalismo no auge do momento descritível como “dirigismo estatal”. E em sua obra “A Lanterna na Popa” ilustra boa parte de sua história política e os dilemas que enfrentou.
Ao longo de suas 1.417 páginas, Roberto Campos relata suas origens, de filho de professor e mãe costureira, nascido em Mato Grosso, no início do século XX. Roberto Campos no início do livro descreve a sua passagem por seminários em Minas Gerais, onde o ensino da lógica escolástica permitiu que desenvolvesse a disciplina do raciocínio e do estudo, que se tornou, para ele que não tinha “pistolão”, arma decisiva de aprovação no concurso do Itamaraty. Relembra os passos de sua carreira de funcionário diplomático, nos anos 1940, nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de assistir à montagem do FMI, do Banco Mundial e da ONU. De forma detalhada, descreve suas atividades de dirigente de importantes agências governamentais de gestão econômica no Brasil, nos anos 1950 e 1960, tais como o BNDES e o Ministério do Planejamento do governo Castello Branco, passando pelos Planos de Metas de Juscelino Kubitschek. Descreve ainda sua atuação como político parlamentar, a partir dos anos 1980, como Senador e como Deputado Federal.
Através de suas memórias escritas é possível acompanhar a circulação das elites brasileiras por vários espaços sociais, como as agências internacionais, os organismos do governo, o mundo financeiro e empresarial, ou os meios acadêmicos. É possível também estimar o peso de certos trunfos para a alavancagem de uma trajetória como a sua na alta função pública: o desempenho escolar, permitindo a superação da origem de classe modesta e o ingresso na carreira diplomática; os estudos econômicos, garantindo a qualificação estratégica para o momento do pós-guerra; o “capital” técnico e social, acumulado em organismos econômicos internacionais e em reuniões, como Bretton Woods, por exemplo, onde trocou conhecimento com Eugênio Gudin e Otávio Gouveia de Bulhões, figuras de elite que foram decisivas em sua carreira, abrindo-lhe caminhos para o acesso às agências de gestão econômica no Brasil.
Na verdade, a história de vida de Roberto Campos deve ser vista dentro do contexto histórico mais amplo de constituição do chamado “Estado desenvolvimentista” e de formação de novas elites políticas no país, aquelas encarregadas da direção dos novos órgãos governamentais criados para a regulação e intervenção econômica. Ele fez parte das primeiras gerações de “técnicos” (denominação dada, nos anos 1940 e 1950, aos profissionais que depois serão conhecidos como “economistas”). Essas gerações eram constituídas predominantemente de engenheiros (como Eugênio Gudin e Roberto Simonsen), ligados a empresas de construção de obras públicas, que participaram de numerosos conselhos técnicos e comissões econômicas do primeiro governo Vargas; e ainda de advogados e/ou altos funcionários governamentais (como Otávio Gouveia de Bulhões, Celso Furtado, Rômulo Almeida e o próprio Campos). Interessando-se pelos assuntos econômicos por razões de ofício (“mais por resignação do que por vocação”, como Campos dizia), esses homens se tornaram economistas, estudando como autodidatas ou em programas de pós-graduação no exterior, como foi seu caso, ao frequentar os cursos noturnos da Universidade George Washington e depois os de Columbia em Nova York.
Assim como Celso Furtado, para quem o contato com as teorias keynesianas em Cambridge e o trabalho na Cepal foram passos decisivos de carreira, a “vivência no exterior”, a passagem pelos organismos internacionais e os cursos de economia foram também decisivos na carreira de Roberto Campos. Permitiram-lhe sair da condição de “padreco, filho da costureira” e “patinho feio” do Itamaraty e alcançar a posição de membro destacado da elite dirigente.
E, ainda, possibilitaram sua integração a um grupo que realizou importante trabalho de construção institucional dentro e fora do Estado. Liderado por Eugênio Gudin – daí a admiração que Campos revela frente àquele que chamou de “estadista e profeta” – e composto por Bulhões, Lucas Lopes, Glycon de Paiva e muitos outros, esse grupo participou do processo de criação de órgãos como o BNDES, da formatação das instituições de planejamento econômico e do sistema financeiro, como a Sumoc e o Banco Central. Roberto Campos colaborou igualmente com o mesmo grupo na consolidação de outras instituições como a Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro, da então Universidade do Brasil, e o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas, ambos criados e dirigidos, durante muitos anos, por Gudin e Bulhões.
A Faculdade de Economia do Rio, acompanhada da USP, foi pioneira no sistema universitário brasileiro; e o IBRE-FGV introduziu e desenvolveu no Brasil, de forma também pioneira, nos anos 1940, as chamadas “tecnologias” keynesianas, as quais depois Campos se tornaria opositor ferrenho: contas nacionais, balanços de pagamentos e índices de preços. Como é conhecido, essas instituições ofereceram contribuições importantes para o processo de desenvolvimento industrial e de modernização da sociedade brasileira posteriormente.
Roberto Campos não foi, porém, apenas um alto funcionário de agências do poder executivo. Lembrando o austríaco Friderich August von Hayek, que diz “não ser bom economista quem for apenas economista”, ele resolve se tornar, a partir dos anos 1980, um policrata (híbrido de político e burocrata). Para se colocar do outro lado da política, no Congresso, ele tem que enfrentar os desafios da competição eleitoral. São interessantes as descrições de sua campanha para senador no estado do Mato Grosso, onde as habilidades de palanque e o atendimento de favores para a obtenção de votos se misturam com os trunfos trazidos pela condição de tecnocrata, intermediando empréstimos internacionais para seu estado.
O leitor observará que as memórias são muitas vezes misturadas com trechos de análises técnicas sobre desenvolvimento industrial, planejamento, sistema financeiro, reserva de mercado para a área de informática e outras questões do gênero, nas quais o autor esteve envolvido. Nesses “ensaios econômicos” ele expõe seus pontos de vista, assumindo posições que na linguagem da moda poderiam ser denominadas “neoliberais”. Independente da adesão ou não às orientações políticas e ideológicas de Roberto Campos, o livro é um documento imprescindível para aqueles que, deixando de lado preconceitos, pretendem conhecer “por dentro” o Estado e o sistema político do país, a partir da vivência reconstruída de um de seus personagens mais importantes.
Mas a contribuição de uma obra de memória será tanto maior quanto for a percepção do leitor de todos seus efeitos simbólicos. Nela, o autor pretende produzir conhecimento sobre si, algumas vezes prestar contas ou esclarecer fatos, como na passagem em que Campos relembra o Acordo de Roboré sobre o petróleo boliviano, episódio que parece ter sido dos mais dolorosos de sua vida política e que acabou gerando a alcunha de “Bob Fields” pela esquerda da época acusar Campos de “entreguista”.
Além disso, através da construção de suas memórias, o autor pretende gerar também o reconhecimento de si próprio. Vale a pena transcrever, por sua expressividade, como ele apresenta fatos simples da vida pessoal – ano e mês de nascimento – de forma construída, isto é, relacionada à interpretação de grandes acontecimentos históricos e tomada de sentido pelas palavras de campos no final do livro: “Nasci num annus terribilis e num mês cruel. O ano foi 1917, em plena I Guerra Mundial, poucos meses antes da revolução comunista de outubro, o mais sangrento experimento de engenharia social de todos os tempos (…) O mês era abril, que o poeta T. S. Eliot descreveu como” o mais cruel dos meses, misturando memória e desejo’’. Memória e desejo. Justamente o que aqui está em jogo”.