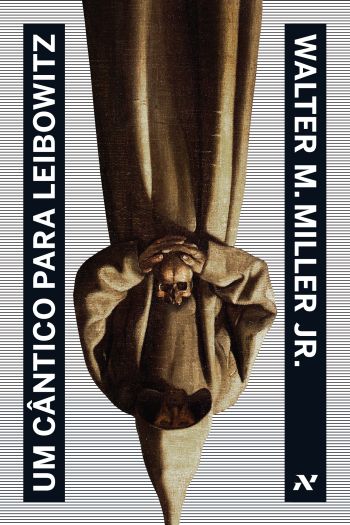
“O desenvolvimento técnico deixará apenas um problema: a caducidade da natureza humana.” (Karl Kraus)
Um dos temas que têm gerado bastante interesse meu é a velocidade das mudanças tecnológicas e o que isso significa para nós, homens. Parece inegável que muitos, na era da “morte de Deus”, passaram a depositar na ciência toda a sua esperança, inclusive no que diz respeito ao nosso maior receio: a morte.
Mas se os conservadores religiosos têm algo a nos dizer sobre isso, é justamente que a natureza humana não pode ser manipulada impunemente pela tecnologia: os avanços da ciência encontram, como obstáculo frequente e instransponível, a relativa imutabilidade de nossa alma, de nosso espírito.
Esse tem sido um assunto recorrente por aqui, como quando comentei a série “Black Mirror” da Netflix, ou quando fiz resenhas para livros de Michael Sandel, John Gray, Nassim Taleb e outros. Foi também o tema da minha primeira leitura do ano, Um Cântico para Leibowitz, uma distopia escrita por Walter Miller na época da Guerra Fria, onde o medo de uma destruição nuclear do mundo era constante.
Foi uma ótima dica do meu editor na Gazeta do Povo, Marcio Antonio Campos, que fez uma resenha da obra. Trata-se de um livro difícil, até pela erudição e a grande quantidade de expressões em latim, sem tradução (o leitor que se vire!). Mas a mensagem é muito interessante, e também atual: se o risco maior não é tanto das ogivas nucleares hoje, o embate entre arrogância prometeica da ciência e os alertas religiosos permanecem. Um dilema, talvez, entre conhecimento e sabedoria, que certamente não são equivalentes. Diz Campos:
Antes de se converter ao catolicismo, Miller lutou na Segunda Guerra Mundial, tendo integrado tripulações de bombardeiros e feito parte da polêmica destruição do mosteiro de Monte Cassino, na Itália, o “marco zero” da ordem beneditina, tendo sido fundado pelo próprio São Bento. E Um cântico para Leibowitz se passa justamente em um mosteiro da fictícia Ordem Albertina, localizado no deserto norte-americano, em algum ponto entre o que hoje são os estados de Utah e Colorado. No século 20, uma guerra nuclear e a contaminação posterior (chamadas, no livro, de “Dilúvio de Fogo” e “Precipitação Radioativa”) destruíram praticamente o mundo inteiro. Os sobreviventes, então, revoltados com o que havia acontecido, promoveram a “Simplificação”: o expurgo e perseguição dos cientistas que haviam tornado possível a evolução dos armamentos, que acabou se generalizando para a caça a qualquer intelectual.
Alguns dos perseguidos conseguiram refúgio nas igrejas e abadias. Isaac Leibowitz foi um deles; abrigado pelos cistercienses, resolveu tornar-se um deles após ter certeza de que sua esposa tinha morrido na guerra, e depois decidiu fundar uma ordem dedicada a Santo Alberto Magno, padroeiro dos cientistas, cujos monges coletariam e armazenariam o que quer que houvesse sobrado do conhecimento científico e que não tivesse sido destruído na catástrofe nuclear ou na Simplificação. Entre os monges haveria copistas, encarregados de copiar tudo o que fosse encontrado, para que resistisse ao tempo; e memorizadores, que decorariam os conteúdos (pensou em Fahrenheit 451? Eu também) caso o acervo físico do mosteiro, chamado de Memorabilia, caísse nas mãos da turba destruidora (esse acabou sendo o destino do próprio Leibowitz, traído e martirizado). Esse trabalho seria feito ainda que os monges não compreendessem absolutamente nada daquilo que copiassem ou memorizassem; no futuro, confiavam, alguém haveria de encontrar um sentido para todas aquelas informações, e enquanto isso não acontecia caberia a eles a tarefa de preservá-las. O livro tem três partes, separadas por vários séculos. A primeira delas começa cerca de 600 anos depois da guerra e da Simplificação, e mais não digo sobre o enredo para não tirar a graça da leitura.
Se a ideia de monges trabalhando para recuperar conhecimento perdido de uma civilização anterior lhe parece bem familiar, é porque o caráter cíclico da história da humanidade é um dos temas importantes do livro. Na breve pesquisa que fiz após terminar a leitura, vi que as resenhas costumam enfatizar, como assunto relevante, as relações entre Igreja e Estado, que de fato aparecem mais na segunda e terceira partes. Mas é a relação entre ciência e fé que permeia boa parte do livro, a começar pelo seu próprio pressuposto, o de que, se no passado a Igreja foi a responsável por preservar o conhecimento filosófico greco-romano, no futuro seria também a Igreja a conservar o conhecimento científico da civilização moderna. Diversos outros temas e situações também estão presentes, como o desdém dos “novos intelectuais” pela fé religiosa, a participação de religiosos entre os pioneiros de uma Revolução Científica, o papel da religião como bússola moral diante de um desenvolvimento científico sem reflexão ética, e a maneira como os historiadores do futuro reconheceriam (ou não, melhor dizendo) a ação da Igreja na preservação do conhecimento, prevista em uma conversa meio profética entre o abade dom Paulo e um velho amigo judeu.
Tudo isso não deixa de ser curioso, se pensarmos que em 1960, quando Um cântico para Leibowitz foi publicado pela primeira vez, o Novo Ateísmo ainda não tinha aparecido para radicalizar o discurso antirreligioso, mas o trabalho de historiadores que resgataram a verdade histórica sobre o papel das religiões no progresso técnico-científico do Ocidente ainda estava em seus primórdios. O paradigma reinante ainda era aquele de Draper e White, com suas mentiras a respeito de uma hostilidade da religião (e, especificamente, da Igreja Católica) à ciência.
A abadia dos copistas era o grande guardião do conhecimento acumulado pelos homens, mas o uso que seria feito dele dependia de muitas coisas, entre as quais a ética, os valores morais, a preocupação com os limites de nosso poder humano. O autor mostra que a religião não era e não é uma inimiga da ciência, mas sim de sua utilização descuidada, arrogante, antiética:
Mas os príncipes, desprezando totalmente as palavras dos sábios, pensaram cada um com os próprios botões: “Se eu for o único a atacar com rapidez suficiente, e em segredo, destruirei os outros todos enquanto dormem, e ninguém restará para contra-atacar. Então, a Terra será só minha”. Essa foi a insanidade dos príncipes, e então se seguiu o Dilúvio de Chamas.
O “pragmatismo” a qualquer custo, e eis o resultado: uma catástrofe. O homem usando o próprio conhecimento, o poder, para destruir a Humanidade. Alimentando tudo isso, o niilismo, o ressentimento com um “mundo injusto”, um ódio infantil ao Criador do universo:
Da confusão de línguas, da mescla e do entrelaçamento dos remanescentes de muitas nações, do medo – de tudo isso brotou o ódio. E o ódio disse: Vamos apedrejar e estripar e queimar aqueles que fizeram isso. Vamos provocar um holocausto contra os que perpetraram esse crime, junto com seus descendentes e seus sábios. Ardendo, que pereçam e que pereçam todas as suas obras, seus nomes e até mesmo a lembrança deles. Destruamos todos eles, e ensinemos nossos filhos que o mundo é novo, que eles nada podem saber dos acontecimentos que se deram antes. Vamos realizar uma enorme simplificação, e então o mundo deverá começar de novo. [… ] Nada tinha sido mais odioso aos integrantes das turbas do que os homens instruídos; no princípio, porque haviam servido aos príncipes, mas depois porque se recusavam a participar das carnificinas e tentavam se opor às turbas, chamando aquela multidão de “corja de simplórios com sede de sangue”. […] A Simplificação tinha cessado de ter um plano ou um propósito logo depois de ter começado, e se tornou uma insanidade frenética de assassinatos e destruições em massa, como pode ocorrer somente quando os últimos vestígios de ordem social forem abolidos.
A descrição exata do niilismo, palavras que poderiam descrever um Coringa de Batman, ou os jacobinos, os bolcheviques e tantos outros revolucionários que tentaram fazer “tabula rasa” da humanidade, parir o “novo homem” destruindo tudo existente no processo “redentor”. É Pol-Pot na veia!
“Como uma grande e sábia civilização pode ter se destruído tão completamente?”, pergunta um personagem. “Talvez”, responde outro, “por ser materialmente grande e materialmente sábia, e nada mais”. Ou seja, por lhe faltar “algo”, aquilo que a religião, quem sabe?, pode oferecer, mas não as ideologias. “O Homem era tanto o portador da cultura como o portador de uma alma, mas as culturas humanas não eram imortais e podiam perecer com uma raça ou uma era”. Não há garantias aqui.
Há excelentes diálogos no livro, entre o abade cristão e um velho judeu, entre o abade e um intelectual acadêmico. Não se trata de uma visão boba da religião ou do cristianismo, como os espantalhos vulgares que os ateístas preferem combater, e sim de uma postura sábia perante a vida, o mundo, o incognoscível, o absoluto. E quando o acadêmico genial provoca o abade sobre a inutilidade de manter aquele acervo todo ali, sem uso “prático”, ele responde:
Devo ler para o senhor a relação de nossos mártires? Devo citar os nomes de todas as batalhas que enfrentamos para manter intactos estes registros? A relação de todos os monges que ficaram cegos na sala de cópias? Pelo senhor? E, no entanto, o senhor diz que não fizemos nada com o conhecimento. Que o guardamos em silêncio.
E sobre a arrogância do filósofo, alimentada pela vaidade, o abade espeta:
Por que quer desacreditar o passado a ponto inclusive de desumanizar a última civilização? Para que não precise aprender com os erros que eles cometeram? Ou será que o senhor não tolera ser apenas um “redescobridor”, e precisa se sentir um “criador” também?
Aí talvez esteja um pecado mortal dos homens: querer substituir o Criador, ou seja, não ter a humildade de aprender com o passado, de aceitar o mundo como ele é, mas desejar ser seu próprio Criador, revolucionar tudo, iniciar do zero um “novo mundo”, com base em seu conhecimento “científico”, porém inculto, ignorante acerca da natureza humana. Talvez não tenha muita escapatória mesmo, pois a história se repete, e muito:
Pense só: estamos indefesos? Fadados a fazer tudo de novo e mais uma vez e mais uma vez? Será que não temos escolha a não ser bancar a fênix e repetir sua interminável sequência de ascensões e quedas? Assíria, Babilônia, Egito, Grécia, Cartago, Roma, o império turco e o de Carlos Magno. Da terra ao pó e lavrados com sal. Espanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos – incinerados no esquecimento dos séculos. E de novo e de novo e de novo. […] Estamos fadados a isso, ó Senhor, acorrentados ao pêndulo de nosso próprio carrilhão enlouquecido, impotentes para deter seu vai e vem?
E o mais curioso talvez seja o fato de que muitos desses movimentos revolucionários surjam não na miséria e na ignorância, mas sim na afluência e no conforto, das elites que desfrutam das benesses do progresso tecnológico. Basta pensar nos famosos socialistas, ou nos revolucionários de universidades. A explicação pode estar nessa reflexão:
Quanto mais perto os homens chegavam de se proporcionar a si mesmos um paraíso perfeito, mais impacientes pareciam se tornar com ele – e consigo também. Os homens criaram um jardim das delícias e se tornaram cada vez mais infelizes com ele à medida que o lugar crescia em riqueza, poder e beleza. Talvez porque então fosse mais fácil para eles perceberem que alguma coisa estava faltando naquele jardim, alguma árvore ou arbusto que iria crescer. Quando o mundo estava nas trevas e na miséria, podia–se acreditar na perfeição e ansiar por ela. Mas quando se tornou iluminado pela razão e pela fartura, começou a sentir a estreiteza do buraco da agulha, e isso se ressentiu em um mundo que não desejava mais acreditar ou ansiar pela perfeição.
O homem não suporta o tédio, o conforto, e aqueles que gozam desses privilégios podem se mostrar mais angustiados ainda, ao observar os que ainda vivem na miséria, na ignorância, com uma sensibilidade mal calibrada. Há, ainda, a subversão de valores quando “intelectuais” se colocam como “ungidos” e não precisam mais labutar pela simples sobrevivência, e desdenham do “homem comum”, um “alienado”. Vem da elite aprisionada numa bolha o idealismo arrogante, a utopia, nunca de um operário trabalhando para alimentar a família ou fugir do frio. E esses “intelectuais” podem perfeitamente acreditar em sua missão salvadora:
Vendo desgraças para todo lado e detestando, sincero em seu desejo de fazer algo a respeito. Sincero: essa era a maldição. De longe, nossos adversários parecem malignos, mas, de perto, podemos enxergar sua sinceridade e ver que é tão grande quanto a nossa. Talvez satã fosse o mais sincero de todos.
O inferno, afinal, está cheio de boas intenções. E isso inclui muitos cientistas obcecados com o conhecimento, mas sem humildade suficiente para reconhecer seus limites, o que seria fruto da sabedoria. Ainda é viável encontrar um meio termo entre fé e religião, usar uma para amenizar os perigos que vem da outra, caso descontrolada? Ou estariam ambas fadadas ao eterno embate?
Rodrigo Constantino



