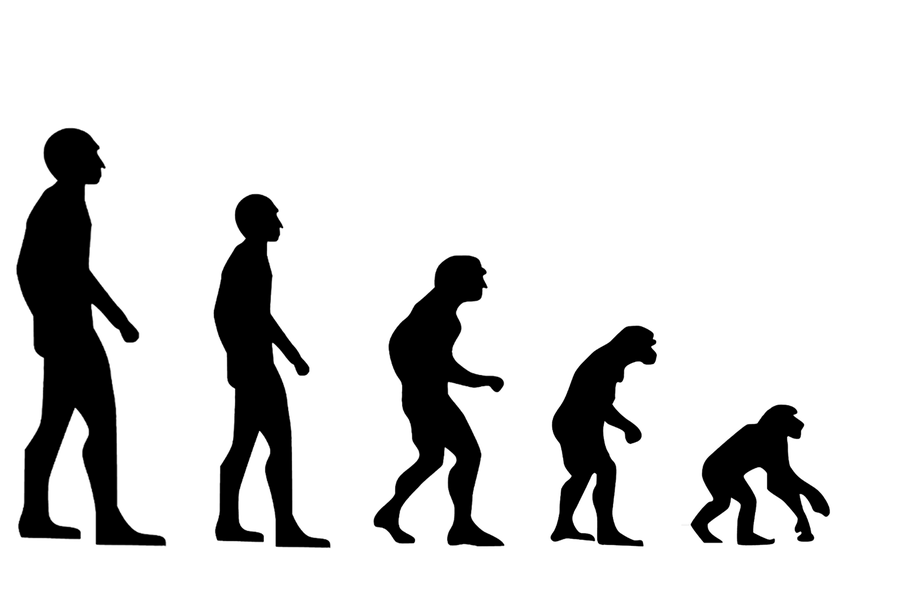
A cultura que criou a nossa sociedade, contrariamente às ideias da moda, não acreditou jamais em “construir um futuro melhor”. Ao contrário, até: o futuro melhor que viria um dia sempre foi percebido como ao mesmo tempo algo vindo “de fora”, por intervenção divina direta, e uma espécie de tragédia, em que muita gente (aparentemente) boa iria de ponta-cabeça para as ardenas infernais. O nome do evento, até, já deixa bem claro do que se trata: Juízo Final. Para qualquer um de nossos antepassados civilizacionais nos últimos 2 mil anos, o Juízo Final – precedido individualmente pelo Juízo Particular de cada um ao morrer – era ao mesmo tempo uma esperança (daí a jaculatória “Maran Atha”, “Vinde, Senhor!”) e um tremendo temor. Ele virá à noite, como um ladrão. Ninguém o pode prever, que dirá preparar ou, menos ainda, construir. A única maneira de estar mais ou menos tranquilo quanto ao próprio destino na hora dele, quando se há de ter novos Céus e nova Terra, é pela santificação individual.
E este é o outro grande ponto da nossa sociedade: a santificação é necessariamente individual, na medida em que toda imperfeição é necessariamente individual. As imperfeições sociais são sempre o resultado de imperfeições individuais multiplicadas pelo coletivo. Uma sociedade de anjos não teria defeitos, mas a nossa, composta por pessoas para quem é tantas vezes mais fácil fazer o mal que o bem, forçosamente sempre haverá de ter defeitos.
É por isso, inclusive, que as ideologias que tantos assassinaram no século passado tinham sempre, escondido em algum momento de sua fantástica conquista de um futuro utópico, o momento em que a própria natureza humana seria modificada. O “novo homem socialista”, a “pura raça ariana” e outros delírios nada mais eram que uma resposta nonsense à necessidade de lidar com o fato simples e fácil de observar de que, como diria a avó do Manuel, “o mundo é fabuloso; o ser humano é que não é legal”. Chesterton dizia (cito de memória) que todo pensamento ideológico baseia-se, de uma maneira ou de outra, na ideia de tirar leite de pedras. Partindo-se deste pressuposto, constroem-se enormes divagações acerca de como melhor distribuir o leite. Quando, todavia, alguém lhes pergunta como farão para arrancar leite de pedras, ignoram a questão, para eles irrelevante, e voltam a falar de seus planos de enormes frotas de caminhões-pipa levando o leite tirado das pedras a toda parte.
E as pedras somos nós, ou melhor, nossos corações. O ser humano carrega em si uma tremenda facilidade para enfiar o pé na jaca. Chamamos a isso de “pecado original”, e todos os nossos antepassados concordariam que isso é decorrente de sermos descendentes de Adão e Eva. Ora, as pessoas mais moderninhas riem da história da Queda, e têm mais facilidade em acreditar em qualquer besteira com ares de cientificidade que em Adão e Eva. Mas o fato de que carregamos em nós essa facilidade para fazer o mal, o fato de nosso orgulho, de nossas concupiscências, de nosso amor-próprio desmedido, tudo isso está aí, é inegável e não depende da crença em sua origem adâmica.
E é isso o que me apavora, e deveria apavorar qualquer pessoa com um módico de capacidade de raciocínio, quando nos surgem pela frente os ideólogos e suas ideias do que fazer com o leite: a natureza humana é imutável. Não adianta construir uma sociedade angelical e povoá-la com seres humanos; só o que isso há de fazer será negar a humanidade de todos os que não forem suficientemente “angelicais”, e condená-los não ao fogo do inferno, mas – na melhor das hipóteses – ao exílio. É daí, dessa necessidade de arrancar primeiro os mais diferentes, que vieram as bruxas de Salém, o Gulag, Auschwitz, as cadeias americanas lotadas de pretos, os cubanos refugiados em Miami, os venezuelanos jorrando aos borbotões no nosso Norte. E depois deles virão outros, e outros, e outros. No fim das contas, seria necessário matar a todos, ou pelo menos livrar-se deles, na medida em que – por óbvio – não há anjos.
O tal “progresso” é sempre o mesmo: a volta à baila dos horrores que jazem em nosso inconsciente marcado pela Queda
Uma sociedade não se constrói, ao menos conscientemente. Uma sociedade perfeita, então, é impossível. E corrigir os erros dos homens por mudanças sociais, no mais das vezes, só tem como dar errado. Afinal, as mudanças sociais serão dirigidas por outros homens, tão errados quanto os que seriam corrigidos! Só o que se faz, nesses casos, é multiplicar as tiranias, aumentar o número de vítimas, e, no atacado, formar uma sociedade bem pior do que a porcaria que lhe era anterior. Estão aí os venezuelanos que não nos deixam mentir. Ou os sobreviventes do Estado Islâmico. Ou os norte-coreanos. E por aí vai: a natureza humana, repito, não se coaduna a esse tipo de experiência social.
As sociedades humanas, por isso, são sempre fruto de longuíssimos prazos, de ideias que vão aos poucos, muito aos poucos, aos pouquíssimos, tomando força de baixo para cima e modificando lentamente, ao longo de dezenas de gerações (logo, de vários séculos), as instituições que lhes eram anteriores. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a percepção da dignidade humana intrínseca que a Igreja deu a Roma: não foi nem da noite para o dia nem, muito menos, de cima para baixo que toda uma sociedade passou a perceber que é perfeitamente possível que um mendigo seja, aos olhos de Deus, maior e melhor que o imperador. Pode-se até notar que o imperador acabou caindo quando isso foi mais perfeitamente introjetado pela massa da população. Daí veio o fim da escravidão, pela primeira vez na história. A Europa cristã foi a primeira cultura a abolir a escravidão.
Mas as más ideias voltam rapidamente, e com força, por uma razão simples: elas apelam aos nossos piores instintos. Uso novamente o mesmo exemplo: quando aumentou o contato entre a Europa cristã e o Islã norte-africano, a escravidão voltou. Ela não voltou como se jamais houvesse desaparecido, sendo principalmente confinada aos novos territórios descobertos pelas Grandes Navegações (Brasil inclusive, para nossa tristeza). Mas ela voltou. Bastou ter contato maior com uma cultura onde ela não havia sido eliminada para tal chaga ganhar novamente força e tração no meio da nossa.
E é isso o que acaba sendo a ideia de “progresso” pregada pelos ideólogos: ideias de jerico d’antanho, espanadas pra tirar a poeira e com um banho de loja, que ressurgem onde houve um labor de séculos para afastá-las. Os romanos praticavam sem pejo o aborto, o infanticídio e basicamente qualquer forma de assassinato de pessoas consideradas domesticamente dependentes. Um pater familias romano, um patriarca, podia mandar jogar um bebê recém-nascido ao esgoto, bem como matar os filhos, a esposa, quem ele bem entendesse, independentemente da situação social da vítima: quem fazia parte da “casa” dele, de seu domus, estava em suas mãos. Assim, mesmo que o filho fosse um general ou senador, seu pai poderia sem medo algum mandar matá-lo, estando plenamente dentro de seus direitos. Ora, e o que é a pregação pró-aborto feita pelos “progressistas”, se não isso? No caso, a mãe se coloca exatamente como o patriarca romano, como detentora do direito de vida e de morte sobre quem está em “seu território”, que ela define como seu corpo. A dignidade humana do filho que ela carrega em seu ventre não vale rigorosamente nada para ela; a questão é apenas seus supostos direitos sobre seu próprio corpo, como o patriarca romano tinha sobre seu próprio domus. O fato de a pobre criança estar presa à mãe pela placenta é percebido como sendo ainda um fator agravante e prova de que a mãe pode matá-la por parasitismo, exatamente como o patriarca poderia fazer com qualquer “boca inútil” dentro de casa.
Mas o tal “progresso” é sempre isso mesmo: a volta à baila dos horrores que jazem em nosso inconsciente marcado pela Queda. Outros exemplos claros nós vemos por toda parte, desde o surgimento de um tribalismo urbano delirante, em que “tribos” cujos membros se percebem identitariamente como membros dela primeiro e qualquer outra coisa depois (sejam elas LGBT, punk, funk, skinhead, o que for) e se digladiam pelas ruas (ou saem, com grande fanfarra, expondo o seu “orgulho” identitário pelas avenidas), seja na falência quase completa das instituições judiciárias, tão afastadas da realidade que acabam se tornando uma ilha da fantasia com regras próprias. Isto é o progresso. E o retrocesso aos abismos que nos encaram de dentro mesmo de nós.
Na verdade, “progresso” é impossível. O paraíso não pode ser alcançado pelos nossos próprios esforços. Só o que podemos fazer é tentar conservar a sociedade ao máximo, mesmo porque as mudanças que a aprimorem irão acabar ganhando no longuíssimo prazo, em séculos, mas sempre de baixo para cima. Toda mudança social real ocorre de baixo para cima. Marx achava que havia conseguido prevê-las; Lênin provou-o errado. A “vanguarda do proletariado” não é nem jamais foi idêntica ao “proletariado”. Este é, com razão, conservador. Sua suposta vanguarda, composta na verdade por burgueses condoídos, é que era progressista. E o mesmo ocorre hoje. As “vítimas da sociedade” que os progressistas creem exaltar na verdade, no mais das vezes, ou bem detestam ser “exaltados” ou bem apenas tardiamente, percebendo na “exaltação” uma fonte de facilidades (cotas etc.), acabam por unir-se aos vanguardistas por interesse próprio, jamais social.
Mas, como sempre, não se trata de progresso real, sim de desmanche do que levou um enorme tempo para surgir. E, mais ainda, na medida em que o suposto progresso vem de cima para baixo, inevitavelmente o que se tem é a criminalização do que sempre foi a regra. A reviravolta social, que no mais das vezes consiste em piorar o que já era bem ruinzinho. Quando o Estado se arvora origem da instituição matrimonial, e primeiro a decreta dissolúvel, e depois a abre tanto, mas tanto, que ela deixa de ter qualquer relação com o matrimônio natural (que seria do interesse da sociedade, logo do Estado que a guarda, por ser o local da geração e educação primeira das novas gerações), o que se tem é a simples dissolução social. A queda numa situação tão péssima, que é questão de tempo até que o que já está ocorrendo em pequena escala (haréns e afins, poliamorosamente registrados em cartório como equivalentes ao matrimônio) se torne algo socialmente comum, exatamente como a escravidão voltou a ser comum.
É a natureza humana, repito. O matrimônio serve fundamentalmente para a proteção da mulher e das crianças da bestialidade de todos nós. Quando a sociedade deixa de reconhecê-lo, ou, pior ainda, equipara a ele qualquer coisa que as pessoas de sexualidade hiperativa consigam bolar, quem sofre é, evidentemente, a mulher e seus filhos. É a volta aos tempos de Abraão, com Agar sendo expulsa com o filho no colo porque a preferida miraculosamente concebeu. Ou, pior, ao que se vê ainda hoje em muitas culturas polígamas, em que cada nova esposa se torna escrava das anteriores. É esta a natureza humana; retirando-se as proteções sociais, os mais fracos sempre sofrerão.
É por isso, senhores, que quando alguém vem me falar de “progresso” eu tenho calafrios. Isso não existe.




