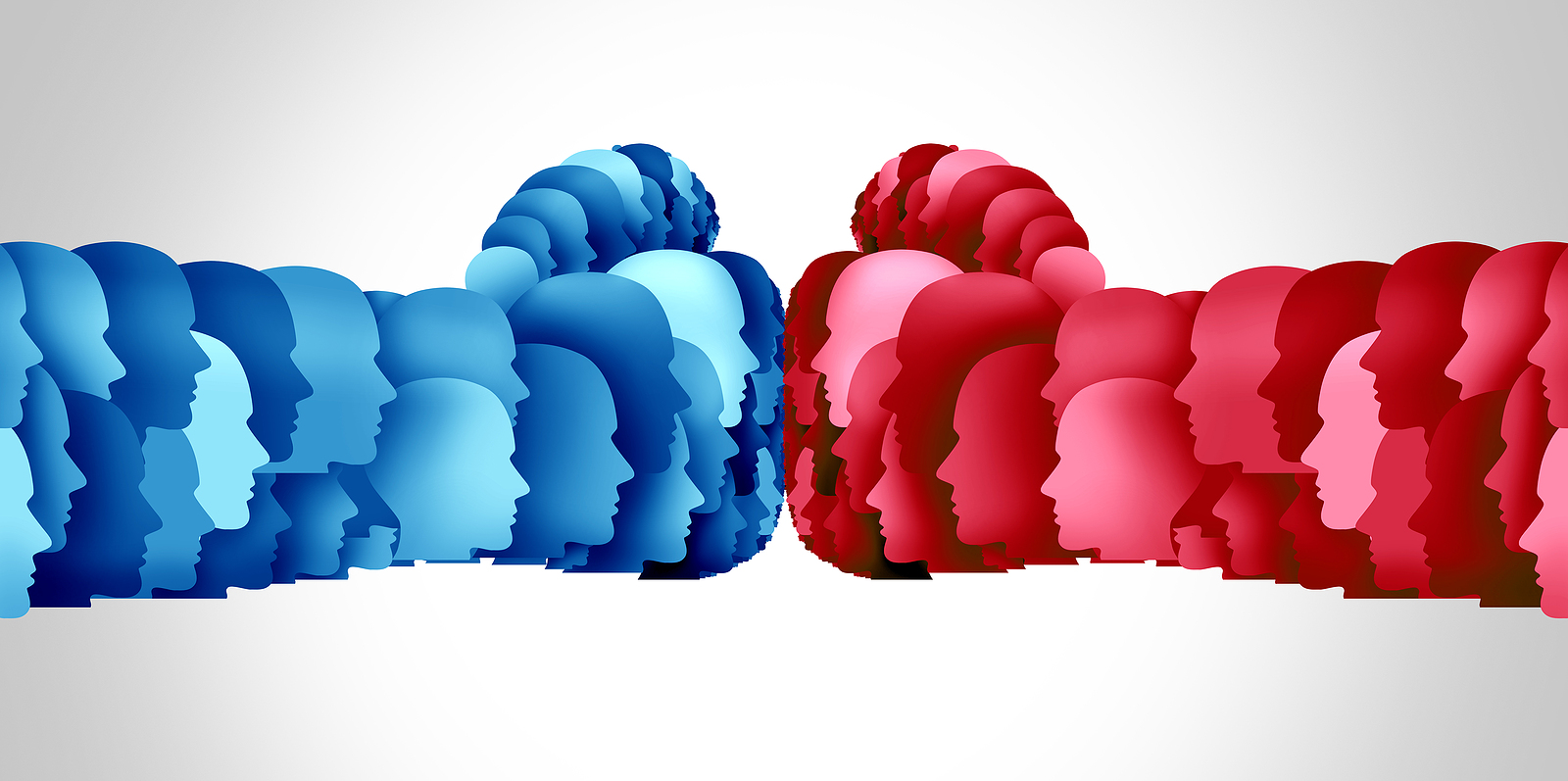
Ouça este conteúdo
No finalzinho do mês passado, em 28 de janeiro, o caderno Ilustríssima da Folha de S. Paulo publicou um interessante artigo pelo Dr. Sillas de Souza Cezar, que merece maior atenção: “Evangélicos se radicalizam para disputar monopólio da moralidade com progressistas: avanço de pautas de esquerda cria moral pagã e gera batalha por influência e poder”.
O argumento do Dr. Sillas é de que o conflito teve início com o avanço da esquerda pressionando por uma mudança geral nos padrões morais em uma variedade de campos da vida moderna. Também fiz a mesma observação nessa coluna sobre como o progressismo radicalizou a guerra cultural. Com isso os evangélicos, um movimento em ascensão, viram sua proposta moral perder atratividade e alcance, e se lançaram numa batalha desesperada pelo poder. E isso teria arrastado o movimento à extrema direita.
Essa é a porção de trigo na análise conjuntural que o autor oferece no artigo: trata-se, de fato, de uma guerra de moralidades. Ele cita corretamente Mark Lilla sobre o crescimento das pautas identitárias da esquerda e sua força moral trazendo consigo várias sanções e penalidades, “que variam de cancelamentos à marginalização política sumária de indivíduos ou grupos”. E com isso teríamos “um momento incomum da nossa história social, onde coexistem duas moralidades rivais, uma sagrada e outra pagã.
Essa guerra de moralidades tornou-se, também, uma guerra pelo poder. Sobre isso o autor apresenta logo no início do texto uma autópsia direta e gelada:
Suponho que o estranhamento pela contradição entre uma mensagem de amor cristã e a paixão pelas políticas tóxicas dos últimos anos ocorre porque tentamos enxergar a questão tomando o amor como força maior da religião, não o poder.
Em outras palavras, queremos entender os comportamentos radicais desse grupo por meio das palavras de Cristo quando deveríamos reconsiderar as de Maquiavel, para quem o poder é a bênção suprema, e o medo, muito mais eloquente que o amor.
Variando de modo assaz descuidado entre “os evangélicos” e uma “força eclesiástica” – não fica claro se os agentes da guerra moral são uma elite, um conjunto de instituições, ou as massas religiosas – o Dr. Sillas argumenta que a grande e estranha frente unindo denominações tradicionais e pentecostais contra a agenda moral da esquerda teria como explicação suficiente, Maquiavel. E o artigo conclui numa ironia seca: “como já sugeria o caderninho da minha mãe, o que está em jogo nunca foi a propagação do amor, mas um suposto direito de dizer como, quando, por que e a quem, ele deve ser oferecido”.
A peça me causa sentimentos contraditórios. Sendo bem direto, como o próprio autor: ele apresenta uma leitura perspicaz da atual guerra entre evangélicos e a esquerda laicista, mas tenta vender junto o seu trigo uma porção de joio sobre teoria da religião e sua interpretação pessoal e bastante cínica do cristianismo. A saca não vale o preço.
Religião e Moralidade
Nosso autor não é negativo sobre a religião, enquanto expressão de anseio e interrogação por transcendência, e por um arcabouço de origem e destino para a existência. Nada haveria de intrinsecamente irracional na religião, sob esse ângulo. O problema reside na instituição religiosa com suas moralidades. A moral religiosa seria, em última análise um sistema para definir as regras de acesso à transcendência e transformar isso em poder político.
Essa visão se harmoniza com a tese ultrapassada de que Jesus teria trazido um ensinamento simples sobre o amor, mas seus discípulos teriam distorcido a coisa. A mensagem de Jesus e seu sacrifício teria sinalizado a aceitação de todos os impuros e pecadores, legando-nos um universalismo sem qualificações. O problema do cristianismo nasceria depois, com alguns apóstolos desorientados que decidiram melhorar o ensino de Jesus criando regras morais, legislando sobre quem é digno do amor de Deus. Ao criar a igreja, com portões, regras comportamentais e critérios de legitimidade, os apóstolos inventaram a moral cristã. E junto com a moral vem a sua manipulação política, para controlar as pessoas. Afinal de contas, como diz o Dr. Sillas, “Se considerarmos válido que a vida social demanda algum ordenamento, temos que o controle dessas regras é uma fonte primária de poder político.”
Mas regras morais são só isso, joguetes da vontade de dominação? Retomo a admissão tímida do autor, a certa altura, de que as pautas da esquerda identitária assumiram relevância “por razões boas e ruins”, citando o trabalho de Mark Lilla. Por razões de espaço, creio eu, ele não diz uma palavra sobre essas razões; e, no entanto, o seu mérito é da mais absoluta importância nessa discussão. Se Lilla estiver correto – como discutimos inúmeras vezes nessa coluna – o progressismo moderno, como seu individualismo expressivo, na acepção de Robert P. George, produz uma introversão psicológica e moral nos indivíduos contemporâneos, destruindo sua capacidade de cooperar e de imaginar o bem comum. Essa é a morte solitária dos modernos. Não é que os progressistas contemporâneos não gostem de regras – na verdade eles as adoram! – mas que eles não gostam de regras que limitem o avanço do individualismo expressivo.
Nesse caso o que temos não é, meramente, um conflito entre duas moralidades que se possa contemplar de um lugar de neutralidade moral. Esse lugar não existe, exceto em uma abstração maquiavélica. A moralidade que exacerba o individualismo e enfraquece a simbiose social é objetivamente doentia e reprovável. É a sociedade comendo o próprio rabo. Não se trata de moralidades equivalentes, e não se pode esconder esse fato alegando cinicamente que temos apenas um conflito de forças sociais em busca de hegemonia.
E isso nos leva à questão da função social da religião. Qualquer um poderia citar Durkheim, por exemplo, explicando a necessidade do sagrado para produzir coesão social; ou estudos mais recentes em psicologia moral sobre o papel da religião no fomento à cooperação social. A questão, muito prática, é que não pode haver cooperação sem regras compartilhadas, e a religião ajuda a organizar e validar essas regras. Mesmo sociedades altamente cooperativas, mas muito secularizadas, como a holandesa, as nórdicas, a japonesa ou a chinesa, tiveram um longo passado de influência religiosa constitutiva, formando e acumulando seus capitais sociais. E não foi qualquer religião o que produziu esses efeitos, mas religiões com ensinamentos altamente éticos e prosociais, como notou Francis Fukuyama em Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.
O Dr. Sillas parece ver esse fato com um olhar bastante cínico, mas eu o convidaria a ser menos negativo sobre isso. O ponto é que a cooperação social é tanto uma necessidade evolutiva quanto uma condição para a construção e sociedades de confiança, e não é possível ter uma sociedade de confiança sem acordos sobre regras e sem sanções contra os que atentam contra elas. Eu sinto por quem imagina um mundo diferente, mas quanto a isso tenho pouca afeição por utopias, e menos ainda pelo cinismo que elas engendram.
Eu não penso que a religião tenha apenas esse papel; não proponho naturalizá-la completamente. Mas como teólogo cristão, tendo a pensar que essas dimensões estruturais da experiência humana são boas e necessárias. A coerções sociais que ajudam a produzir uma sociedade cooperativa não são intrinsecamente más, nem meros joguetes políticos. Se podem ser manipuladas por forças políticas malignas? Sem dúvida; mas a noção de que a essência boa da religião seria tão somente sorrir e abraçar todo mundo, que sua perversão são as regras morais excludentes, e que a sociedade corrompe as coisas, não passa de crendice romântica.
Graça e Lei
Mas há no artigo coisas mais antigas que o enlatado Rousseauniano. A ideia de que os apóstolos teriam modificado o evangelho de Jesus remonta a Marcião de Sinope, o famoso heresiarca. Esse antepassado teológico do Dr. Sillas achava mesmo que os apóstolos corromperam o evangelho de Jesus, adicionando-lhe “a lei”. Marcião chegava mesmo a negar que o severo deus do Antigo Testamento pudesse ser o mesmo Deus amoroso de Jesus. A tese marcionita passou por diversas reencarnações, especialmente a partir da teologia modernista no século 19, mas cada uma delas achou seu caminho para o túmulo. E depois da “terceira busca do Jesus Histórico”, nas décadas de 1970 e 80, biblistas importantes como N. T. Wright considerariam a ideia inteira não apenas mortinha da silva, mas morta de vez.
Se, por um lado, a base científica para separar a mensagem de Jesus e a mensagem apostólica não se cristalizou, por outro lado a ideia fantasmagórica de separar o amor da moralidade e das normas sociais continua assombrando o mundo moderno. E um amor que não se traduza em decisões morais não passa mesmo de uma assombração.
Mas não quero nem por um instante negar que regras morais possam ser separadas do princípio do amor – algo que é muito claramente ensinado tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. A questão é que não são apenas os “fariseus, hipócritas!” (como Jesus costumava dizer) os que fazem isso. Nesse trabalho infame os moralistas contam com a colaboração dos antinomistas, os negadores da lei. Os moralistas colocam as regras morais acima do amor pela pessoa, e os antinomistas negam os deveres morais impostos pelo próprio amor. São duas mortes espirituais diferentes, mas igualmente horríveis.
Esse é o maior problema conceptual no artigo: sua aparente suposição de que o amor possa ser concebido no vácuo, sem se materializar em decisões éticas individuais e coletivas que promovam a cooperação e a confiança entre as pessoas. Que o amor não precise ser encarnado em uma ordem social – ainda que ele necessariamente a transcenda. Esse erro elementar transparece do início ao fim do artigo, mas fica claríssimo no último parágrafo:
“... o que está em jogo nunca foi a propagação do amor, mas um suposto direito de dizer como, quando, por que e a quem, ele deve ser oferecido.”
Assim, na mente do nosso autor, “propagar o amor” está em contradição com “dizer como, quando, porque e a quem ele deve ser oferecido”. O fato, no entanto, é que o próprio Jesus, que ordenou a universalidade do amor, também confrontou a autoridade dos fariseus e saduceus e repreendeu seus discípulos. O amor não impedia Jesus de entrar em divergência moral e em conflitos principiológicos. Nem o impedia de pregar, em seu sermão do Monte, “não vim destruir a lei, mas cumprir!”.
A inclusão que Jesus pregava não era moralmente neutra; ela tinha dentes. Não existe amor genuíno que seja moralmente neutro. E, como ensinou Dietrich Bonhoeffer – o amoroso teólogo que tentou matar Hitler – não existe graça barata, sem compromisso e sem discipulado. “Amor” sem fidelidade, sem sacríficio, sem relação de cuidado e sem limites, é um simulacro.
Não é de admirar que o Dr. Sillas demonstre pouco apreço pelo cristianismo aprendido em sua infância presbiteriana. Eu também não o reconheço.
Quem é Pagão?
E quanto à alegação do Dr. Sillas de que a moralidade da esquerda é “pagã”? Embora a sua tese faça sentido, à superfície, é simplesmente errada. Sem dúvida nenhuma a construção do Self nos termos do individualismo expressivo, como vemos sendo proclamada Ad Nauseam por nossas elites culturais, tem um elemento profundamente pagão: a ideia de liberdade como puro poder do arbítrio, cuja genealogia tem sido feita por mais de um pensador. Cito, como exemplo, os trabalhos do Dr. John Milbank, da Universidade de Nottingham. Outro elemento nitidamente pagão na moral progressista é, a olhos vistos, sua revolução carnavalesca na ética sexual. O Dr. Steven D. Smith mostra isso de modo magistral em sua obra Pagans and Christians in the City: as doutrinas e práticas afetivo-sexuais do progressismo moderno tem também suas pessoas, objetos e práticas sagradas, e tão sagradas e intocáveis quanto em qualquer religião.
Mas vejo-me obrigado a citar novamente a sugestão intrigante do historiador britânico Tom Holland, em Dominion, segundo a qual toda a visão da nossa modernidade laica, de que os direitos humanos são universais e que os vulneráveis devem ser respeitados e protegidos, é inescapavelmente um fruto da hegemonia cristã. Ele chega a afirmar, como observamos no artigo da semana passada, que a guerra entre evangélicos e identitaristas seria uma “guerra civil” dentro do cristianismo. Nesse caso a guerra de moralidades não seria entre a moral pagã e a cristã, sem mais.
Talvez seja melhor dizer que a moralidade da esquerda é semi-cristã ou, mais precisamente, que ela é uma corruptela, uma heresia do cristianismo, um projeto pós-cristão. Seu melhor vem de Jesus Cristo, e seu pior vem da cópula entre epicurismo e capitalismo emocional.
E quanto à moralidade supostamente “sagrada” dos evangélicos? O autor reprova duramente as igrejas evangélicas por seu apoio à extrema direita e ao “falso testemunho, o armamentismo, o curandeirismo, o ódio e a devastação da natureza”. Nesse o ponto tenho o dever de provocar Dr. Sillas: de onde ele tirou essas regras de certo e errado? Do amor ou de algum projeto de poder?
Provocações à parte, cabe dizer o óbvio: essa mentalidade é inteira e acabadamente pagã. Aos pagãos, adoradores de Marte, de Buluc Chabtan ou de Wotan, sempre pertenceu o culto ao poder e à guerra; e o fato de igrejas e pessoas evangélicas haverem defendido tais coisas não guarda qualquer relação com o ensino de Jesus, dos apóstolos ou da igreja primitiva. Na verdade, não tem a ver nem mesmo com as doutrinas oficiais de muitas denominações e de agremiações como a Aliança Evangélica Brasileira. Por que não tratar tais enfermidades morais como o que são, manifestações do velho autoritarismo brasileiro, ainda que vestidas de cristianismo evangélico?
Mas, nesse caso... a moralidade evangélica também seria semi-cristã e herética. Ao menos na medida em que se sente confortável com o autoritarismo da extrema direita.
O Oceano e a Ilha
Meu último reparo sobre esse assunto da “moralidade”, previsível para quem acompanha essa coluna, é que o conflito entre conservadores e progressistas vem sendo há tempos estudado de modo bastante sério em psicologia política, psicologia moral e psicologia social, e nem mesmo é uma realidade puramente religiosa. Ele tem camadas subterrâneas.
Ao invés ler o conflito de modo trivial, como uma guerra entre religiosos com a moralidade sagrada, e laicistas como uma moralidade pagã, proponho o entendermos como uma guerra de moralidades com sagrados distintos. Uma “guerra de sentimentos morais”, como escrevi no primeiro ano da pandemia.
Jonathan Haidt é apenas um dos muitos que examinaram o problema da polarização moderna, identificando diferenças de sensibilidade moral entre as pessoas que são capturadas em movimentos políticos, e ele propôs a seguinte explanação: em ambientes urbanos, individualistas, “líquidos” e hedonistas, desenvolvem-se personalidades mais atentas aos sentimentos morais do cuidado pelo vulnerável, da igualdade e da liberdade, mas menos comprometidas com o bem comum, ao passo que em ambientes mais sociocêntricos, as pessoas aprendem a valorizar a autoridade, o sagrado e a lealdade.
Formam-se assim os cosmopolitas e os conservadores ou “enraizados”. Os cosmopolitas entendem o amor de forma sentimentalizada e universalista, e acreditam no controle político da sociedade a partir de grandes estruturas; os enraizados entendem o amor como um compromisso comunitário, e defendem o controle ético e local. As duas classes tendem a divergir sobre suas agendas morais.
O caso, no entanto, é que os atuais centros de controle político, econômico, intelectual e cultural de nossas sociedades reproduzem de forma subserviente a ética da elite cosmopolita. Me parece compreensível, então, que o esforço pela completa hegemonia cultural dessa elite cosmopolita tenha engendrado uma reação do proletariado cultural conservador – lembrando que os evangélicos representam, como a sociologia da religião brasileira mostrou muito bem, um movimento que vem da margem para o centro. Eles não representam uma “moralidade burguesa”, exceto nos pesadelos da militância esquerdista.
A atual guerra de moralidades, portanto, juntamente com seu componente religioso, teria um componente psicológico, relacionado com vieses cognitivos muito específicos, ligados aos sentimentos morais. Mas além disso, o seu componente político não é só uma luta de poder, mas uma guerra de classes: cosmopolitas versus conservadores, “nowhere” versus “somewhere”.
E nesse sentido, a atual guerra moral é vista por muitos evangélicos como uma questão de sobrevivência, e não apenas de poder. Na sua percepção, há na esquerda uma vontade de cercear e silenciar o discurso moral evangélico. Assim, o avanço progressista é visto como uma ameaça existencial que parte da elite cultural nacional. Ela se posta como uma ilha progressista em um oceano conservador.
O Fundo de Verdade
Por fim, descontando a visão peculiar do Dr. Sillas quanto à religião e ao Cristianismo, e sua confusão a respeito de paganismo e cristianismo, quero concordar com o que penso ser possível salvar no seu artigo – que é, graças ao bom Deus, o seu ponto principal: o cristianismo evangélico trocou a luta justa e cristã contra a moralidade pós-cristã da esquerda, que deve ser mesmo combatida, por um vale-tudo. E esse vale-tudo político está afastando os cristãos do próprio cristianismo. Esse é o núcleo de verdade do artigo: há um maquiavelismo eclesiástico desorientando o rebanho cristão. Priorizar a vitória política sobre a imitação de Cristo é maquiavelismo. Tratei disso mesmo em nossa coluna, lamentando a “oferta do bruxo” aceita pelos evangélicos conservadores no alinhamento incondicional a Bolsonaro.
Ainda assim, podemos descontar o cinismo moral publicado na Ilustríssima. A esquerda neopagã/pós-cristã não está se esforçando para seguir com cuidado e atenção o que resta nela do ensinamento de Cristo. Na verdade, ela não tem nenhum compromisso com o evangelho. Por outro lado, muitos evangélicos, assim como católicos, violam sua fé ao abraçar a extrema direita. Nesse sentido, afastar-se de Cristo não torna a esquerda infiel a si mesma; mas quanto mais os evangélicos se afastam de Cristo, mais inautênticos eles se tornam.
Há um bom combate moral do qual os evangélicos não podem se esquivar; mas esse bom combate não é a guerra cultural que temos lutado até agora.




