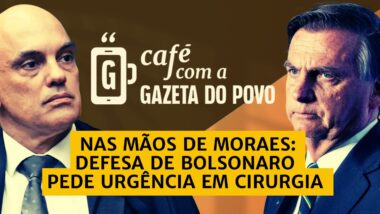Li que no Vietnã, séculos atrás, acreditava-se que as carpas transportassem ao céu a alma dos mortos. Não sei, mas estou quase seguro de que as carpas daqui, e em especial as do Passeio Público, desconhecem tal tradição. Acho, inclusive, que o cadáver encontrado no lago do parque, dia desses, só lhes terá induzido a uma leve perplexidade. Ou nem isso. Um corpo humano, mesmo morto, interessará menos às carpas do que qualquer pedaço de broa lançado à água.
Sobre o afogado, sei pouco. Quem o avistou foi um casal de turistas que passeava de pedalinho. Na verdade, não garanto, apenas ouvi dizer, não estava lá nessa hora. Vi, sim, quando o pescaram, bem depois. Era domingo de manhã, e muita gente se aglomerou para acompanhar o resgate. Os bombeiros deitaram o corpo na margem de lá do lago, a salvo da nossa curiosidade. Largado sobre o assoalho de concreto, permaneceu assim por um bom tempo, acho que à espera do IML. Cobriram-no com uma lona pesada, a que dobraram várias vezes, e o vento ameaçava levá-la embora, erguendo suas abas, como se tentasse virar as páginas de um grande livro.
Eu observava a cena de longe, o ângulo era ruim, mas me pareceu que a única coisa descoberta, ali, eram os pés do afogado. Ou seus sapatos, para ser mais preciso. Eu me perguntava: por que não cobriram também os seus pés? Eu sabia, claro, que ninguém os deixaria descobertos de propósito, aquilo era obra do acaso. Mas também era certo que aqueles sapatos à mostra, e cujos bicos apontavam para cima, adquiriam um lustro de ironia. É com os sapatos, afinal, que percorremos o mundo, tomamos posse e conhecimento do chão e vamos de um lugar a outro, iludidos por um ideário de proteção e liberdade. O sapato, em suma, é a própria viagem. O movimento de sair de casa, e o de voltar para ela.
Um policial solitário, de pé, ao lado do cadáver, o vigiava. Fumando, lia e digitava mensagens num celular, distraindo-se do tédio e da inutilidade daquela ocupação. Para o morto, por sua vez, tudo era novidade. Aquela, quem sabe, era a primeira vez em que fazia uso de um guarda-costas. E o que teria ainda, de seu, a ser guardado? Dinheiro e documentos encharcados, um relógio de valor sentimental, outro celular, este calado para sempre. Só sei que, a distância, era comovente vê-los assim, juntos, o vivo e o morto, o homem que se afogou e seu sentinela, tão iguais e a um só tempo apartados, dividindo um mesmo espaço de exclusividade, demarcado por uma vibrante fita de isolamento, plástica e amarela. Não, ali não havia nada para ser visto, e aquela talvez fosse a única verdade verificável sobre a morte. Ela é uma paisagem inapreensível.
Cansado daquela espreita, fui dar uma volta pelo parque e, quando retornei, tudo se apresentava inalterado. O morto e o policial a postos, as carpas e os biguás, o mesmo bando de homens expectantes à margem do mesmo lago. Mas aqueles homens, pensei, estão sempre aqui, há décadas. Sentados sob o arvoredo, jogando truco, dadinho, damas, dominó. Em vez de peças, usam gravetos e pedras. Às vezes, essas pedras e gravetos são tudo que têm para apostar. E talvez tudo que porventura venham a ganhar ou perder na vida.
Naquele domingo, tentavam adivinhar a identidade do homem sob a lona. Não será um de nós, quem é que está faltando? Surgiu a tentação de uma aposta, mas a ideia não vingou, era deprimente demais. Um deles, finalmente enfadado, tomou a iniciativa de se despedir do grupo, que chiou frente àquela desistência, vai aonde? Almoçar, respondeu o outro. E explicou: quem não morre precisa continuar almoçando. Os demais riram, em triste concordância, e dispersaram-se.
As carpas não. A poucos metros de nós, elas se amontoavam diante de um menino que na água entornava o resto de seu pacote de pipocas. Não sobrou nem um caroço.