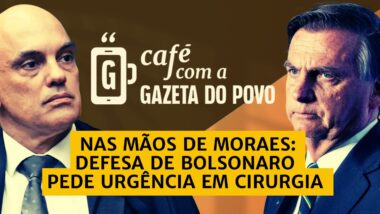Um parêntese: há momentos – felizmente raros – em que a história pessoal se impõe às percepções conjecturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica.
O silêncio e os indícios de esquecimento que na sexta-feira rodearam os 70 anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial me sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que éramos obrigados a decorar no ginásio.
Seis anos antes, a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista e, logo depois, pela Rússia soviética empurrou a guerra para dentro de casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto com a URSS e a invadiu através de fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: tinham sido exterminados.
A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza de que começava uma nova página da história. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” tornara-se desnecessária.
Aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas
A guerra, parecia, acabara para sempre, inclusive para nós, brasileiros, os únicos latino-americanos que foram ao Velho Mundo ensinar que o ódio não era a solução, sobretudo ódio aos diferentes e inferiores. Enquanto os destacamentos da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira retornavam da Itália, delirantemente recebidos na Avenida Rio Branco, da ex-capital, matutinos e vespertinos – mais atentos do que a mídia atual – nos alertavam que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum – o nazifascismo –, se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
Sete décadas depois – porção ínfima da história da humanidade –, aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém intensos ressentimentos. A Guerra Fria foi quentíssima, continua acesa, sem ideologias, mas com bandeiras tacanhas e esfarrapadas. As Guerras Santas acirraram-se.
Se aquela fugaz promessa e a brevíssima paz não mereceram ser devidamente comemoradas, a certeza de que as guerras são contínuas, infindáveis, deveria ser constatada. Como advertência de que não basta suspender tiroteios ou obrigar vencedores e vencidos a sentarem-se juntos para assinar papelada inútil.
Indispensável extirpar os motivos que levam à loucura nações e civilizações aparentemente sábias. França e Alemanha são admiráveis exceções que não podem ser esquecidas. Compreenderam que conflitos entre nações são projeções de conflitos internos que democracias desleixadas permitem ser magnificados. Pivôs centrais de cinco catástrofes europeias e mundiais (do século 17 até o 20), deveriam servir de modelo para construir a paz efetiva, real, funcional.
“Quando a guerra acabar” é o título de um sonho cabível, perfeitamente realizável. Exige apenas a obrigação de lembrar e esperar.