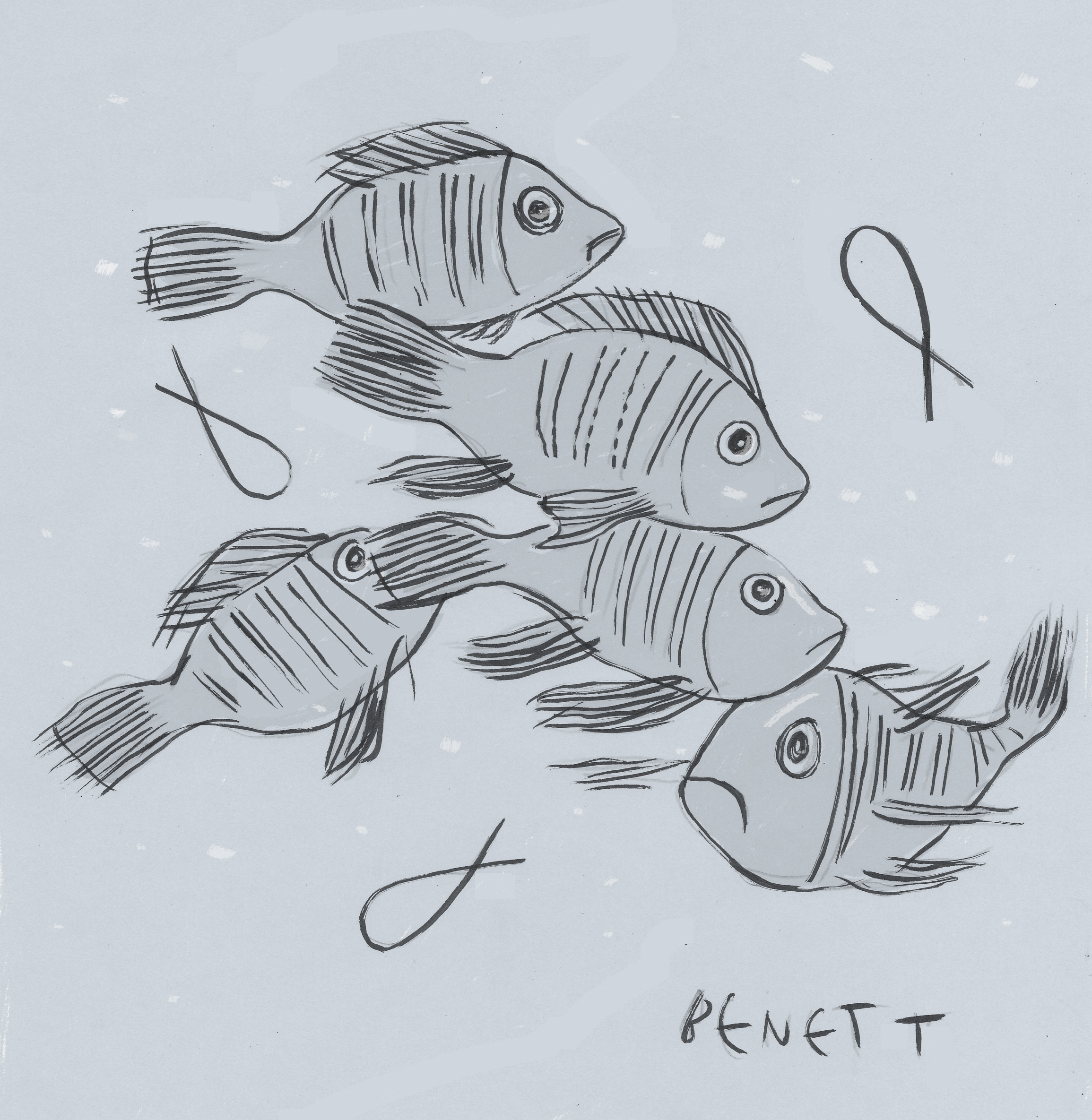
Mais que o mar, me fascinava o tanque das tilápias. O mar era uma impossibilidade, uma proibição que não me cabia desafiar. E tudo bem, nunca me interessou muito entrar nele, como banhista ou navegador. Não que eu não gostasse do mar, pelo contrário; eu o adoro, e posso passar horas diante dele, numa praia. É da minha natureza. Sempre preferi me manter à margem das coisas, e só o mar, acredito, é capaz de nos propiciar uma experiência perfeita, e invertida, de exclusão. Na verdade, é ele que entra na gente e, de certa forma, nos empresta a sua grandeza.
Agradeço e aprecio, mas, no fundo, a grandeza é um item supérfluo. Podemos viver sem ela, e é o que efetivamente acontece. Além do mais, já disse, era o tanque das tilápias que me comovia. O oposto do oceano. Lembro que a primeira impressão que tive dele, ainda menino, foi a de que era um modesto laboratório de grandes milagres. Alguém me contou que os peixes multiplicados por Jesus eram tilápias, duas tilápias que alimentaram cinco mil pessoas. E foi a partir daí, dessa sugestão, que me veio a ideia infantil: naquele laguinho de mentira, o que se buscava fazer era repetir não somente o feito de Cristo, mas também a própria criação.
Só o mar é capaz de nos propiciar uma experiência perfeita, e invertida, de exclusão. Na verdade, é ele que entra na gente
Estava aí, acho, o que me enternecia: a presunção oceânica — e messiânica — numa poça barrenta. O tanque não era um espelho coruscante debaixo do céu, mas tinha sua beleza. Ele não se espalhava, não se movia, não ia a lugar nenhum, não ligava uma terra a outra, nem ninguém a seus antípodas. Um olhar, mesmo míope, já bastava para dar conta de seu tamanho. Ele não era estrada, era prisão, um galinheiro subaquático. Mas sua superfície opaca, de um marrom inacessível, também me dava um sentido sujo, claustrofóbico, de mistério. E uma noção mais honesta de pequenez.
O tanque, um ambiente onde a vida se reproduzia, me lembrava mais uma cova, aberta por nossas máquinas para sepultar a água. Li certa vez, e nem sei se isso está correto, que os índios tinham uma mesma palavra para designar tanto os rios quanto o mar, como se para eles não houvesse diferença relevante entre os cursos e os depósitos da água ainda viva, fosse doce, fosse salgada. Só não consigo deixar de pensar, hoje, ignorante que sou em tantas matérias, no possível nome que os índios dariam ao tanque artificial, esse buraco no chão onde enterrar a água e engaiolar os peixes.
Mas minha maior recordação do tanque das tilápias tem a ver com uma moça, pouco mais velha que eu, e que, na época, era muito falada por todos que a conheciam. Dela, diziam que já fumava e frequentava danceterias, e que gostava de passear seminua pelo acostamento da BR-116, onde se dedicava a fazer soar a buzina das carretas que, ventando por ela, levantavam sua saia.
Numa tarde de verão, encontrei essa menina à beira do tanque, procurando avaliar o próprio reflexo na água parada. Não satisfeita, me consultou, querendo saber se andava bonita. Respondi que sim, mas sem dizer nada, apenas abrindo a boca e deixando escapar dos pulmões um sopro inarticulado de admiração. Ela me entendeu, sorriu e, reclamando do calor, disse que ia se refrescar no tanque. Tirou o vestido pelo pescoço, de um só golpe, e entrou na água, depressa, alegre, de sutiã e calcinha, me dando somente o tempo de perceber que sua roupa íntima, minúscula, expunha por completo a redondeza simples de sua bunda.
Na hora, pensei muita coisa. Mas agora, nesta crônica, só vou dizer que imaginei as tilápias orbitando ao redor dela, debaixo d’água. Para um peixe do mar, aquela nudez seria banal. Para um peixe de tanque, era milagrosa.



