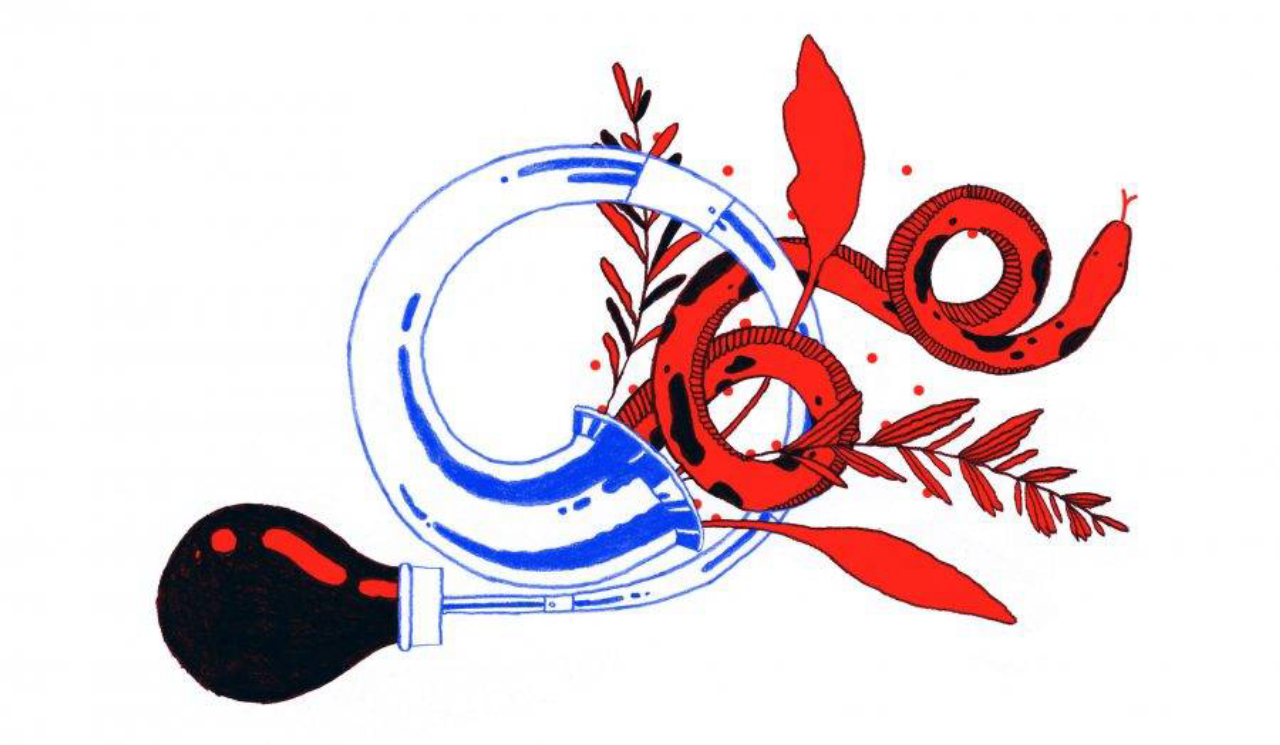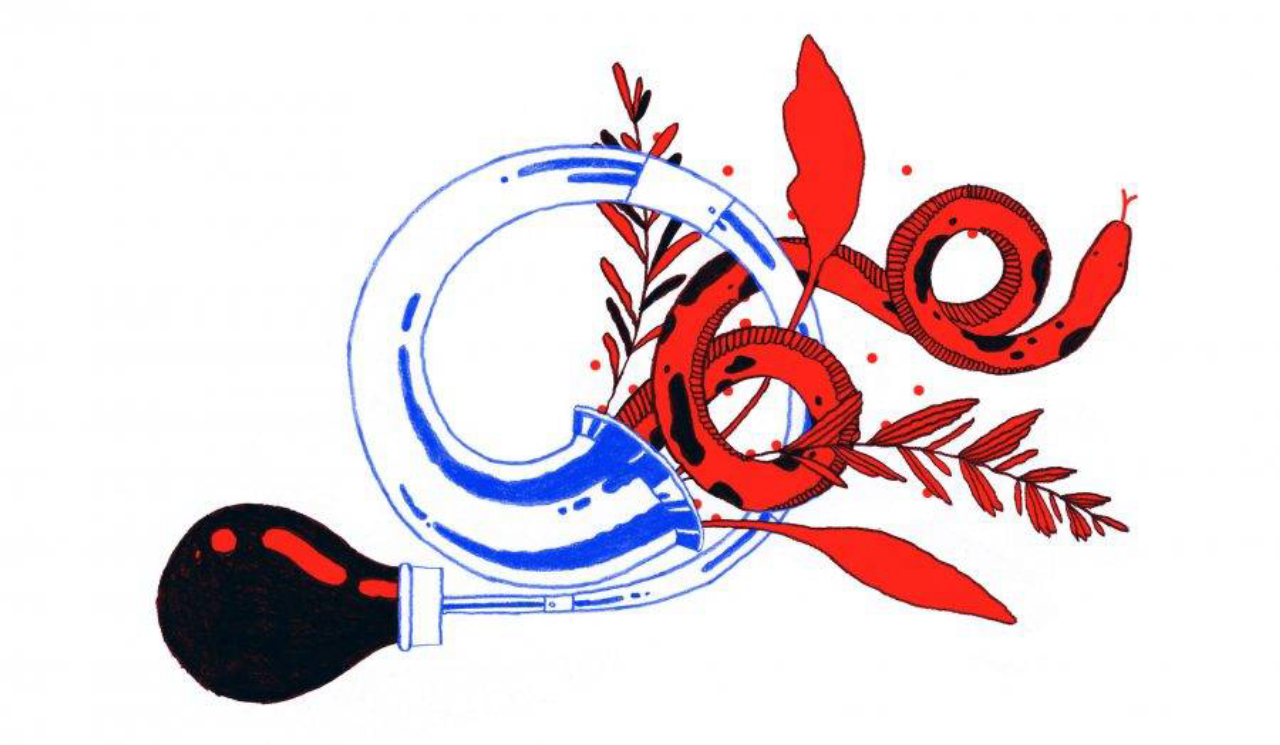É uma experiência e tanto – abro a pasta e dela retiro exemplares puídos do jornal Notícias Populares, um clássico do gênero “espreme que sai sangue”. Ver a reação dos alunos de Jornalismo é o que há. Percebo que alguns releem as manchetes, para se certificar se “é isso mesmo?” que estão vendo. Só falta um gritar: “Furem meus olhos”. Mal acreditam no que encontram – “Broxa torra o pênis na tomada”; “Nasceu o diabo em São Paulo”, “Mulher dá à luz uma tartaruga”… Houve ocasiões em que me perguntaram como era possível que as pessoas lessem aquilo e não saíssem batendo as panelas. Pois é.
Pasmam ainda mais ao serem informados que havia mulheres jornalistas na redação – inclusive como editoras, assinando embaixo de títulos como “Elas mostraram de tudo no carnaval”. Calculem a foto. Sodoma e Gomorra virava matinê. E houve quem me reprovasse ao tentar destacar que o NP tinha uma edição sensacional, mesmo que desrespeitasse os direitos humanos, de A a Z. De nada adiantou replicar um texto bem azeitado de Álvaro Pereira Júnior sobre o assunto. Como pode algo ser bom se é mau na origem – querem saber, com a resposta pronta, de posse do maniqueísmo bipolar hiperativo dos nossos dias. Me espelho em Fernanda Montenegro, explicando aos alemães que a personagem Dora, de Central do Brasil, é sacana, trapaceira e gente boa também. Bizantino.
Reação semelhante recolho ao exibir, vez ou outra, trechos do extraordinário documentário Alô, alô Terezinha, do mestre Nelson Hoineff, sobre a Discoteca do Chacrinha. “Vocês assistiam a isso no sábado à tarde?” Respondo que “sim”, e acrescento que víamos o programa em meio ao ritual de engraxar sapatos e assar chineques antes de tomar banho e ir para os bailinhos. Fora os homossexuais, talvez ninguém sofresse ao ver o Velho Guerreiro incitar a plateia a chamar um calouro, em coro, de “bicha”. E havia ainda o bacalhau, os abacaxis e as bananas atiradas no auditório. Defendo a importância da Discoteca do Chacrinha para a tevê brasileira argumentando que hoje as pessoas transam debaixo do edredom, no BBB, havendo ou não crianças na sala. Mas sou achincalhado por um berro de que se trata de “sexo consentido”. Conflito de gerações. E olhe que nem falei na Rita Cadillac.
O Notícias Populares e a Discoteca do Chacrinha, para citar dois produtos do passado recente – ambos de altíssima voltagem – são de fato indefensáveis em mais de um aspecto. O Centro de Estudos de Mídia e Violência, da Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, fez estudos minuciosos sobre o bem que o fechamento do NP causou à imprensa, a partir de 2001. Foi um basta em expressões como “vai virar mocinha na cadeia”, “se houvesse pena de morte isso não acontecia”, sem falar na exposição vexatória das chamadas “vadias”. Um horror. A saga do jornal está descrita no livro Nada mais que a verdade, de Celso de Campos, Giancarlo Lepiani, Denis Moreira e Maik Lima. É resultado de um trabalho de graduação e ganhou reedições. Merece ser lido mesmo por quem não é do ramo. Quanto a Chacrinha, cujo funeral, em 1988, equivaleu ao de Carmen Miranda, Getúlio Vargas e Ayrton Senna, causa mal estar instantâneo. Uma das cenas do documentário me provoca tamanha repulsa – por seu racismo implícito – que reproduzi-la se torna parte do crime. Melhor deixe.
Não é difícil concluir, contudo, que não ajuda em nada jogar esses produtos para debaixo do tapete – com fariam os personagens de Machado de Assis se aqui estivessem – antes de realizar o que é próprio da vida do espírito: projetar-se no tempo. Uma das pragas desses anos dois mil e tanto é a promoção da obscuridade, revestida de sabedoria gerada em almas relevantes e impolutas. Faz um bem danado à preguiça dizer “eu não pactuo”, como régua para se negar o esforço de compreender quem era o público que tomava café da tarde enquanto Abelardo Barbosa mostrava o fiofó das vedetes, humilhava os convidados e depois recebia Chico Buarque, Caetano Veloso, Elba Ramalho, Clara Nunes e até Roberto Carlos. Um mistério saber como o rei dava trégua ao perfeccionismo e se aventurava na zona dantesca daquela produção.
Hoje, quando percebo que os alunos estão rindo de um vídeo do Porta dos Fundos, durante a aula, me contenho por dever moral. “No meu tempo” (risos), a gente passava o Notícias Populares por debaixo das carteiras, um refresco em meio às agruras da faculdade. Era nosso YouTube, nosso salvo conduto grotesco para lidar com a selvageria que era maior da porta para fora. Roubaram nosso direito de votar. Nos trataram como fedelhos. Não tinha bolinho. Sem pensar o grotesco (alô, alô, Muniz Sodré) não tem como chegar perto de um lugar chamado Brasil. É nosso modo de ser e estar – na novela, no carnaval, na política, na religião.
Em miúdos, sem dar uma forcinha para a imaginação, caímos na esparrela dos julgamentos anacrônicos e extemporâneos, cada vez mais comuns. Põem a perder um gesto de humanidade básica: colocar-se não só no lugar do outro, como no tempo do outro. Não muitos anos atrás, tive uma experiência interessante. Uma estudante disse que queria pesquisar a opressão da imprensa contra as lésbicas. Era um discurso certeiro, mas uma cilada. Começou o embate: mais produtivo seria entender por que a lesbianidade esteve fora do radar dos jornais por tantas e tantas décadas. E partir do princípio de que, em se tratando de uma característica possível do ser humano, podia não estar retratada nas edições do dia, mas em algum lugar encontrou eco. Bingo.
Durante um ano, deitamos e rolamos nas “páginas da sensação” – a literatura erótica do início do século 20, na imprensa alternativa feminista, nos textos impagáveis de Vange Leonel (o feito a partir das notícias sobre órgãos masculinos decepados pelas esposas, de Norte a Sul, merecia um lugar no livro As cem melhores crônicas brasileiras, de Joaquim Ferreira dos Santos), nas diabruras da revista Peteca – editada na comportada Curitiba, no cinema pornográfico. Quanto à imprensa – numa lógica modernista, estava ocupada da coisa e do homem público, e não da esfera privada da sexualidade, assim entendida. Pensar dá trabalho – mas também uma alegria sem par. Quem duvida o rabo espicha.
Se tem algo que dá dó é perceber que tendemos a abrir mão dessa condição humana. Está lá, no livro mais-do-que-pertinente do filósofo Francisco Bosco – A vítima tem sempre razão? – Lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro. O fenômeno das redes sociais legitimou o griteiro. Vence quem simplifica mais o discurso. Quem passa o rolo compressor na conversa do outro. Quem se orgulha de não ter lido nada a respeito e mesmo assim se reserva o lugar de voz autorizada. Pior – vence o que não se dá ao trabalho de pensar que país é esse que tornou possível o Chacrinha, o NP, mas também o Bolsonaro, o Alexandre Frota, o MBL e – que os deuses me perdoem citá-lo, sob risco de que minha língua petrifique – o senador Magno Malta.
O desafio é o mesmo – entender. E o melhor jeito de conjugar esse verbo é no plural. Dá até para elencar os fenômenos que precisamos dissecar primeiro. Penso que o “medo” está na dianteira. Se tem uma coisa que ficou chata foi isso. Tememos. É o que mais se ouve. Quando acabou o NP, a imprensa brasileira se tornou menos policial e mais “pensadora da segurança pública”. Captou que o cagaço provocado por manchetes, bizarras ou não, inibiam o convívio nas ruas, a interação e a tolerância. Buscou-se por uma década mais do que gangues em farra nos motéis – ou escolinhas que praticavam pedofilia – explicações para a violência, o maior dos nossos males. Perdoem a crítica, mas recuamos, abobados pela lógica nefasta da audiência.
O argumento? A sociedade não quer discutir violência – quer entretenimento. Resultado: pratica violência simbólica nas redes sociais, fonte de outras agressões da vida real. Buraco sem fundo. Permitam: o NP e o Chacrinha viraram passado na base da conversa, não da tirania revestida de bons modos. Como dizia o Velho Guerreiro, “quem não se comunica se trumbica”. Falou e disse.