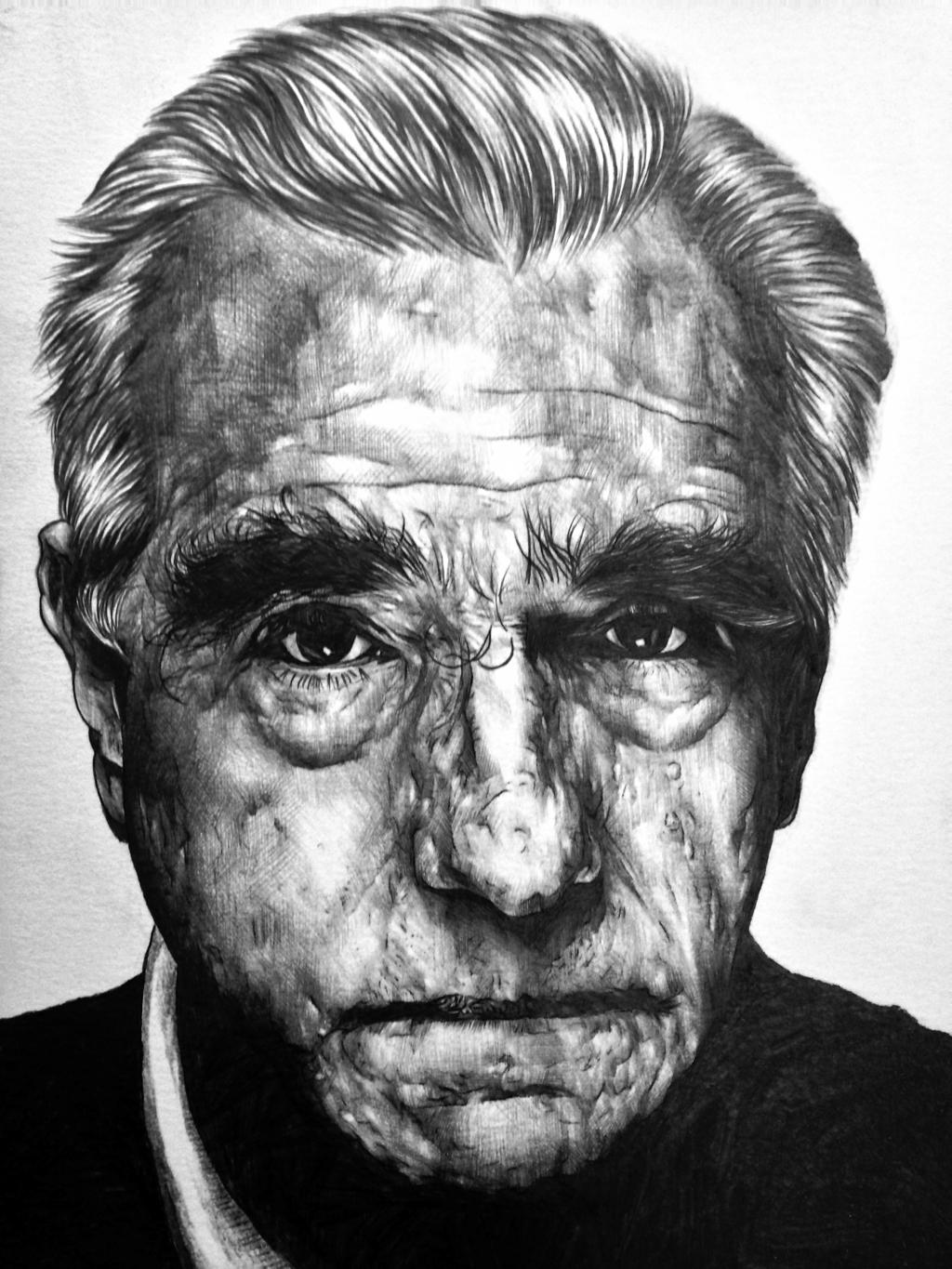
Dia desses, ao chegar em casa após um dia extenuante de trabalho, tive a felicidade de encontrar Vivendo no Limite passando na tevê. Para quem não se recorda, é aquele filme dirigido por Martin Scorsese em que Nicholas Cage vive um paramédico que se desdobra em plantões noturnos enquanto é atormentado por fantasmas de pessoas mortas e vivas. É um dos meus filmes preferidos do meu diretor preferido, aquele que para mim é simplesmente o maior cineasta em atividade.
Lembro que, quando Vivendo no Limite foi lançado, em 1999, ele foi recebido com frieza pelo público e com animosidade pelos críticos. O preço pago por essa recepção amarga é o quase esquecimento desse filme sempre que se fala no diretor, lembrado (justamente) por obras-primas como Taxi Driver, Touro Indomável, Os Bons Companheiros e Os Infiltrados. Essa condição de tesouro renegado me fez, por um tempo, classificar Vivendo no Limite como um “Scorsese menor”, até que meu irmão, outro fã do cineasta, me corrigiu: “Não existe Scorsese menor”, disse ele. Fato.
Pelas minhas contas, tinha uns 23 anos quando assisti a Vivendo no Limite pela primeira vez e me impressionou de imediato. O conhecimento cinematográfico e a experiência de vida acumulados nos anos seguintes só fez melhorar sua apreciação e, cada vez mais, não entender de onde veio a rejeição por parte dos críticos. É um filme que está muito longe de ser pequeno ou “menor”. Pode ter nascido pequeno em suas pretensões, mas se agiganta no desenrolar da narrativa, na aparição de cada novo personagem, em planos magistralmente filmados, em diálogos que unem o surreal à linguagem das ruas.
No livro Conversas com Scorsese, em que Richard Schickel entrevista o diretor sobre todos os filmes de sua carreira, o cineasta reconhece que Vivendo no Limite foi de certa forma fadado ao fracasso.
Scorsese tem o dom de contar grandes histórias não apenas com imagens e palavras, mas também com música, movimento, luz, olhares e silêncios. Vivendo no Limite é um dos exemplos mais bem-acabados disso.
“O filme era difícil para o público e foi um momento [1999] em que esse tipo de filme não tinha o apoio dos estúdios”, justifica o diretor. Na mesma conversa, contudo, entrevistador e entrevistado relembram alguns dos pontos que o tornam algo único, incomparável na carreira do diretor.
“É muito engraçado e meio audacioso”, resume Scorsese.
Vivendo no Limite é baseado no livro homônimo de Joe Connelly, um ex-paramédico que levou para as páginas muitas das histórias vividas a bordo de uma ambulância nas ruas de Nova York. Combinados, livro e filme somam uma experiência difícil de esquecer e cujo conjunto não sai tão facilmente da minha memória. Connelly entregou a matéria-prima, um texto denso, mas cheio de humor negro, que fala de algo extremamente delicado – a dificuldade de lidarmos com a morte, a vontade de, muitas vezes, ter o poder de usar as mãos para trazer alguém de volta à vida (daí o título original, Bringing Out the Dead, “ressuscitando os mortos”).
Marty transformou esse material em experiência sensorial: a câmera por vezes nervosa, com sirenes frenéticas ao som de The Clash ou R.E.M, por vezes piedosa, centrada no olhar desolado dos personagens. E que personagens. Nicholas Cage, um canastrão de primeira, se transforma em uma espécie de Travis Bickle (o protagonista de Taxi Driver, vivido por Robert de Niro) dos novos tempos, um profissional das ruas em parafuso, tão neurótico quanto angustiado. Mas enquanto Travis era atormentado pelo que chamava de “sujeira das ruas”, Frank Pierce, o personagem de Cage, vive mergulhado em um universo quase surreal.
Não é o universo de criminosos nervosos e violentos, de homens e mulheres de moral duvidosa sempre prontos a explodir. Cada fragmento de Vivendo no Limite parece um universo próprio com personagens extraordinários. Onde o “poder de Deus” ressuscita uma vítima de overdose; em que um paciente em coma pede telepaticamente, por favor, para morrer; ou no qual alguém do alto de um prédio, atravessado por uma barra de ferro, é capaz de comentar sorrindo sobre a beleza da vista. Há tristeza e tensão, mas também há ironia, como se fosse sempre possível extrair um sorriso, por pior que seja a situação.
No fim das contas, um cineasta nada mais é do que um contador de histórias. Seu talento é medido pela capacidade de manter a atenção do “ouvinte” e fazer com que aquela história fique gravada na memória. Scorsese tem o dom de contar grandes histórias não apenas com imagens e palavras, mas também com música, movimento, luz, olhares e silêncios.
Vivendo no Limite é um dos exemplos mais bem-acabados por não seguir o modelo de saga que caracteriza suas principais obras. No lugar da ascensão e queda, um misto de crônica e fábula urbana, que pulsa e não permite que o espectador se acomode.
Ainda espero que Vivendo no Limite se torne uma espécie de relíquia arqueológica, que no futuro será visto e terá cada pedacinho analisado e apreciado.
É como Richard Schickel diz a Scorsese: “Tudo o que disseram naquele momento pode ou não estar correto. A verdade verdadeira se revela quando assistimos a um filme 50 anos depois e pensamos: ‘Nossa, é realmente fantástico’. E, muitas vezes, claro, um filme não é realmente tão fantástico como eu lembrava”.
No meu caso, consegue se tornar ainda mais fantástico a cada sessão. Longe de ser menor, é um Scorsese grandalhão.



